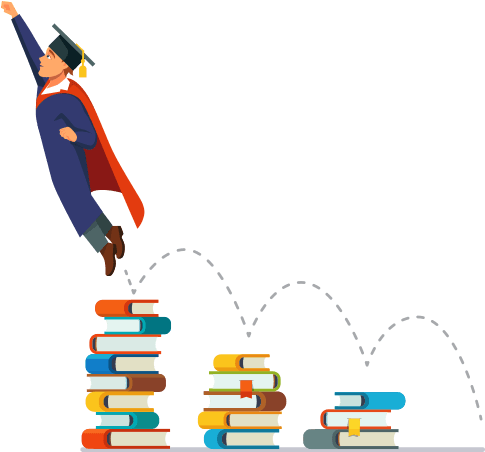Os primeiros 100 dias do segundo mandato de Donald Trump revelam uma agenda marcada pelo endurecimento ideológico, pelo nacionalismo econômico e pelo rompimento com padrões tradicionais da diplomacia norte-americana. Suas ações já provocam impactos tanto no cenário interno quanto no exterior. Nesta matéria, serão discutidos quatro eixos centrais que estruturam seu governo até o momento e que apresentam potencial de aparecer no vestibular: (1) a intensificação da guerra comercial com medidas tarifárias agressivas; (2) a radicalização da política migratória; (3) o combate institucional às ideias progressistas, especialmente nas universidades; e (4) a redefinição da geopolítica americana com ênfase em posturas isolacionistas e expansionistas.
1. Política tarifária: a intensificação da guerra comercial como instrumento político
Desde sua primeira campanha presidencial, Donald Trump tem utilizado o discurso protecionista como uma das principais ferramentas para mobilizar sua base. Em seu segundo mandato, essa postura não apenas se manteve, como foi amplificada, especialmente em relação à China. Nos primeiros 100 dias de governo, Trump reimpôs tarifas sobre uma ampla gama de produtos chineses, que vão de microchips a peças automotivas, e ameaçou aplicar novas taxações a produtos eletrônicos, semicondutores e até brinquedos. Segundo levantamento da CBS News, cerca de US$ 300 bilhões em bens importados da China voltaram a sofrer sobretaxas que variam entre 10% e 245% dependendo do produto (a Casa Branca chegou a anunciar tarifas de até 245% no dia 16 de abril, mas nada está certo por enquanto).
A justificativa oficial apresentada pelo presidente é a “proteção da indústria nacional” e a necessidade de reduzir o déficit comercial com a China. No entanto, economistas e analistas alertam para os impactos negativos dessa política. “Essas tarifas acabam funcionando como um imposto sobre o consumidor americano, pois elevam os preços finais dos produtos”, afirma Chad Bown, pesquisador sênior do Peterson Institute for International Economics, em entrevista à BBC. Ele ressalta que, historicamente, os aumentos tarifários não lograram reverter a desindustrialização dos Estados Unidos, mas sim desorganizar cadeias globais de produção e provocar represálias de parceiros comerciais.
Além da China, Trump também voltou sua atenção ao Canadá e ao México. Em discursos recentes, acusou os dois países de manipular preços agrícolas e ameaçou rever cláusulas do Acordo EUA-México-Canadá (USMCA, atigo NAFTA), assinado ainda em seu primeiro mandato. De acordo com reportagem da CNN, os produtos mais afetados foram o milho mexicano e o leite canadense, cujos setores sofreram pressão direta do Departamento de Comércio americano.
O impacto desse protecionismo tem sido ambíguo. Por um lado, setores como o de alumínio e aço nos EUA viram um ligeiro aumento no volume de produção. Por outro, o custo da matéria-prima encareceu produtos industriais, prejudicando exportadores americanos. Um relatório da Câmara de Comércio dos EUA indica que os aumentos tarifários podem gerar uma perda de 0,5% no PIB caso se mantenham ao longo de 2025.
No campo geopolítico, essa escalada tarifária também representa um reposicionamento estratégico. Ao mirar a China, Trump procura reafirmar a supremacia industrial americana diante de uma potência rival em ascensão. Entretanto, a retaliação chinesa — com barreiras aos produtos agrícolas dos EUA, especialmente soja e milho — já começou a prejudicar exportadores do Meio-Oeste, tradicional reduto eleitoral republicano.
Especialistas como Jennifer Hillman, ex-integrante do órgão de apelação da OMC, destacam que a política comercial de Trump “desconsidera os compromissos multilaterais” e pode isolar ainda mais os EUA em fóruns internacionais. “O risco é transformar o comércio em uma arma política sem considerar suas repercussões econômicas globais”, disse ela em painel promovido pelo Council on Foreign Relations.
Em síntese, a guerra comercial sob Trump 2.0 não é apenas uma ferramenta econômica, mas também um instrumento de afirmação ideológica. Ao reviver confrontos tarifários, o presidente tenta reposicionar os EUA como potência industrial autossuficiente. Contudo, os custos dessa estratégia — tanto para consumidores quanto para a estabilidade global — tendem a se aprofundar com o passar dos meses.
2. Política migratória: endurecimento nas fronteiras e violação de direitos humanos
A política migratória tem sido, novamente, um dos pilares do segundo mandato de Donald Trump. Desde a campanha, o ex-presidente prometeu retomar e endurecer medidas já aplicadas em seu governo anterior, como a construção do muro na fronteira com o México, a deportação em massa de imigrantes indocumentados e a suspensão de programas de acolhimento a refugiados. Em seus primeiros 100 dias, Trump executou ordens executivas que aceleram deportações, restringem vistos humanitários e aumentam o número de agentes de imigração nas fronteiras.
Uma das principais ações foi a reativação do programa Remain in Mexico, que obriga solicitantes de asilo a permanecerem do lado mexicano enquanto aguardam a análise de seus casos nos tribunais americanos. De acordo com a ONG Human Rights First, essa política tem exposto milhares de migrantes — muitos deles mulheres e crianças — a situações de extrema vulnerabilidade, incluindo violência sexual, sequestros e extorsão por parte de gangues. Segundo relatório da Amnesty International, publicado em abril de 2025, o governo Trump está promovendo “um ataque sistemático aos direitos humanos de migrantes e solicitantes de refúgio”, violando acordos internacionais dos quais os EUA são signatários.
Outro ponto de tensão é a retomada da construção do muro fronteiriço. Trump anunciou a ampliação da estrutura em mais de 400 quilômetros até o fim de 2025, o que deve custar cerca de US$ 12 bilhões. Em paralelo, decretou a proibição temporária de entrada de imigrantes vindos de países considerados “instáveis”, principalmente na África e América Central, sob a justificativa de proteger a segurança nacional.
Especialistas, no entanto, têm questionado a eficácia e os impactos sociais dessas medidas. O professor Harold Koh, ex-conselheiro jurídico do Departamento de Estado, afirmou em entrevista à CNN que “a política migratória atual é motivada mais por ideologia do que por dados. A criminalização de imigrantes não resolve os problemas sistêmicos que motivam os fluxos migratórios”. De fato, estudos do Migration Policy Institute mostram que a maior parte dos imigrantes nos EUA está empregada e contribui com impostos, contradizendo o discurso de Trump de que seriam uma “ameaça econômica”.
Do ponto de vista internacional, a nova postura americana já causa atritos diplomáticos. O México manifestou oficialmente preocupação com o aumento das deportações e a presença militar na fronteira. O Canadá, por sua vez, viu crescer o número de pedidos de refúgio por parte de migrantes que temem serem expulsos dos EUA, o que pressionou o sistema de acolhimento canadense.
Além disso, a nova política migratória vem sendo associada a um discurso cultural excludente. Trump tem repetidamente atacado o que chama de “ideologia do multiculturalismo”, classificando-a como ameaça à identidade americana. Para críticos, isso configura uma política de exclusão baseada em nacionalismo étnico. A professora Cecilia Menjívar, da Universidade da Califórnia, alerta que “essas políticas reforçam uma narrativa de medo e exclusão que marginaliza populações inteiras e legitima práticas autoritárias no trato com estrangeiros”.
Assim, o que se vê nos primeiros meses do segundo mandato é a intensificação de um modelo migratório de exclusão, securitização e desumanização, com efeitos concretos sobre milhares de pessoas e repercussões negativas para a imagem internacional dos Estados Unidos.
3. Combate às ideias progressistas: cultura “woke”, repressão a universidades e cerco ao pensamento crítico
Uma das frentes mais visíveis do novo mandato de Donald Trump é a ofensiva declarada contra o que chama de “doutrinação ideológica” promovida por universidades, movimentos progressistas e parte da mídia. Em diversos discursos e ações executivas, Trump tem atacado o que denomina “cultura woke” — termo usado pejorativamente por setores conservadores para se referir a iniciativas de diversidade racial, equidade de gênero, inclusão LGBTQIA+ e debate crítico sobre o passado colonial e escravagista dos Estados Unidos.
Logo nas primeiras semanas de governo, Trump assinou decretos que cortam verbas públicas para instituições que promovem estudos que ele considera “divisivos”, como estudos étnicos, decoloniais e de gênero. Universidades como Harvard, Yale e Berkeley têm sido diretamente criticadas por Trump, que chegou a chamá-las de “centros de propagação de ódio contra os valores americanos”. Em resposta, a Universidade de Harvard divulgou um manifesto em defesa da liberdade acadêmica, afirmando que “o papel da universidade é promover o pensamento crítico, não o conformismo político” (BBC, 2025).
Além do corte de verbas, há repressão direta aos protestos estudantis. Desde o início do ano, centenas de estudantes foram presos em manifestações contra a política externa americana e em defesa dos direitos civis. Um dos casos mais emblemáticos foi o da jovem universitária Leila Thomas, de 21 anos, presa durante um protesto pacífico na Universidade de Columbia contra a intervenção dos EUA no Canal do Panamá. Segundo relatos da CNN e da Amnesty International, foram utilizadas táticas de dispersão violenta com gás lacrimogêneo, detenções prolongadas sem acusação formal e censura de manifestações políticas dentro dos campi.
Especialistas apontam que essas ações configuram uma escalada autoritária no ambiente universitário. Para o sociólogo Henry Giroux, da McMaster University, “Trump tenta transformar as universidades em espaços domesticados, onde o pensamento crítico é substituído por lealdade ideológica”. A filósofa Judith Butler também criticou a repressão em artigo na New York Review of Books, classificando as medidas como “uma tentativa clara de desmontar o projeto democrático no espaço da educação superior”.
O argumento usado pelo governo é que os programas ditos “woke” promovem “culpa branca”, “revisão exagerada da história americana” e “perseguição a valores cristãos”. Mas a realidade, como apontam analistas da Brookings Institution, é que esse discurso serve como instrumento para deslegitimar movimentos sociais e neutralizar os espaços de resistência intelectual ao trumpismo.
A preocupação se estende internacionalmente. A ONU emitiu nota oficial pedindo que os EUA respeitem os princípios de liberdade acadêmica e de reunião pacífica, previstos em tratados dos quais o país é signatário. No entanto, o governo Trump rejeitou as críticas e afirmou que os EUA têm o direito de defender sua “soberania cultural” frente ao que considera “infiltrações ideológicas”.
Dessa forma, a cruzada contra a cultura “woke” representa não apenas um embate político, mas uma disputa mais ampla sobre o papel da educação na construção de valores democráticos. Para muitos acadêmicos, essa guerra cultural coloca em risco a pluralidade de ideias e a própria integridade das instituições universitárias, convertendo o espaço do saber em alvo de uma ofensiva populista com claros contornos autoritários.
4. Geopolítica: expansionismo, isolacionismo e tensões com aliados
O retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos reacendeu velhas ambições geopolíticas, reafirmou o discurso nacionalista e isolacionista do “America First” e colocou em xeque alianças históricas. Em diferentes frentes, da Groenlândia ao Canal do Panamá, passando pelo Canadá, OTAN e Oriente Médio, Trump tem adotado uma postura combativa, muitas vezes sem coordenação com aliados históricos ou organismos multilaterais. A seguir, elencamos seis pontos da geopolítica trumpista:
a) Interesse estratégico na Groenlândia
O novo mandato de Trump retomou, com ainda mais ênfase, a intenção de expandir a presença norte-americana na Groenlândia, território autônomo da Dinamarca com vasta importância estratégica no Ártico. Trump já havia causado polêmica em 2019 ao propor a compra da ilha, e agora volta a sugerir “acordos de soberania compartilhada”, com vistas a instalar bases militares e centros logísticos para controlar rotas marítimas emergentes com o derretimento do gelo polar.
A justificativa é o avanço russo e chinês na região, mas especialistas como o analista geopolítico Hal Brands, da Johns Hopkins University, alertam que a insistência americana “parece menos estratégica e mais simbólica, reafirmando a imagem de uma América imperial”. A Dinamarca reiterou que a Groenlândia não está à venda, e o governo local acusou Washington de tentar minar sua autonomia.
b) Interesse no Canal do Panamá e discurso anti-China
Outra área de tensão crescente é o Canal do Panamá, considerado por Trump um “ponto de infiltração econômica chinesa no continente americano”. Segundo a Casa Branca, a presença de empresas chinesas na administração portuária e logística próxima ao canal representa uma ameaça à segurança dos EUA. O governo panamenho, no entanto, afirmou que não existe controle estrangeiro sobre a passagem.
Trump enviou emissários ao país para negociar o retorno de bases militares americanas na região, o que gerou protestos internos no Panamá e receio entre outros países da América Central. O discurso anti-China, nesses casos, serve como pano de fundo para justificar uma reaproximação militar dos EUA na região, vista como uma nova versão da Doutrina Monroe.
c) Discurso de anexação do Canadá
De forma ainda mais controversa, Trump vem utilizando, em comícios e entrevistas, uma retórica cada vez mais agressiva em relação ao Canadá, afirmando que “os americanos pagam caro pela segurança de um país que nos despreza economicamente”. Em um comício recente, sugeriu que “partes do Canadá deveriam pertencer aos Estados Unidos, se o povo canadense quiser prosperar”.
Embora a retórica seja vista como hiperbólica, analistas da Brookings Institution alertam que ela mina a confiança entre os dois países, além de alimentar movimentos de ultradireita dentro do Canadá. O primeiro-ministro canadense reagiu afirmando que “a soberania do Canadá não está em negociação”, mas a tensão diplomática permanece.
d) Guerra da Ucrânia e exclusão da União Europeia
Na guerra da Ucrânia, Trump rompeu com a postura colaborativa de seu antecessor e passou a negociar diretamente com a Rússia sem consultar a União Europeia ou a OTAN. Ele chegou a sugerir uma partilha territorial que manteria a Crimeia sob controle russo e daria autonomia parcial ao Donbas, o que foi considerado inaceitável por Kiev.
Essa iniciativa unilaterial gerou críticas duras de líderes europeus. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou que “os interesses europeus estão sendo deliberadamente ignorados”. Trump, por sua vez, acusou a Europa de querer prolongar o conflito para manter sua dependência militar dos EUA.
e) Críticas à OTAN e posicionamento isolacionista
Trump retomou seu discurso contra a OTAN, dizendo que a aliança é “obsoleta e cara demais para os contribuintes americanos”. Em abril, ameaçou retirar os EUA do tratado caso os demais membros não aumentem seus gastos militares imediatamente. Essa postura tem enfraquecido a coesão da aliança em meio à guerra da Ucrânia e ao avanço da influência russa no leste europeu.
O isolacionismo, embora popular entre parte do eleitorado americano, preocupa analistas internacionais. “Trump não quer liderar o mundo, quer dominá-lo ou se retirar dele”, afirmou o professor Thomas Wright, da Brookings Institution. O risco, segundo ele, é deixar vácuos geopolíticos que potências autoritárias como Rússia e China estão prontas para preencher.
f) Apoio incondicional a Israel e a Faixa de Gaza
Na política do Oriente Médio, Trump aprofundou seu apoio a Israel mesmo diante das denúncias de violações de direitos humanos em Gaza. Chegou a dizer que, se dependesse dele, todos os palestinos seriam retirados da Faixa de Gaza para “abrir espaço para investimentos turísticos”, citando o potencial de construção de resorts e cassinos na costa mediterrânea.
A declaração causou escândalo internacional e foi considerada uma proposta de limpeza étnica por organizações de direitos humanos. O Washington Post revelou que membros do governo israelense de extrema-direita, como Itamar Ben-Gvir, já haviam discutido planos semelhantes em reuniões privadas com autoridades americanas.
O apoio incondicional de Trump ao governo Netanyahu isola os EUA em fóruns multilaterais. Em recente votação na ONU para garantir ajuda humanitária aos palestinos, os EUA foram um dos únicos países a votar contra, ao lado de pequenas nações insulares sob sua influência diplomática.
Essa postura combativa e unilateral de Trump na política internacional marca um novo ciclo de instabilidade global, onde os EUA buscam ampliar sua influência direta, mas abrem mão do multilateralismo, gerando desconfiança até mesmo entre antigos aliados.