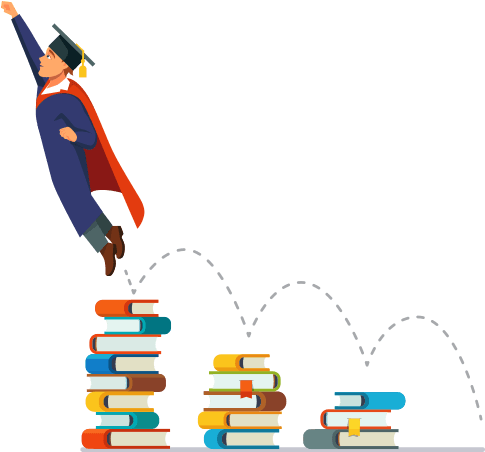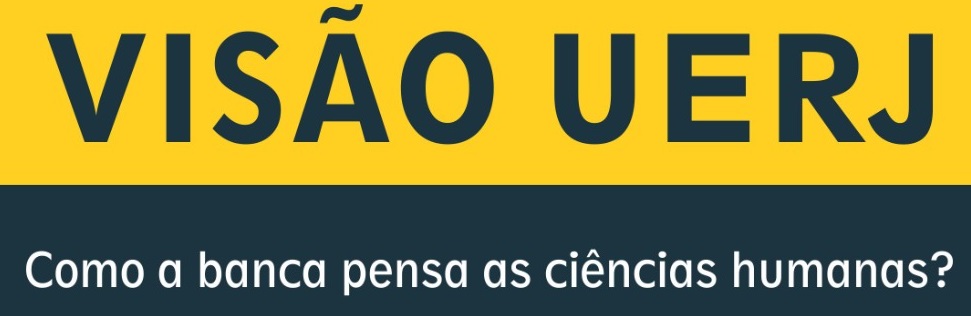
1 – B
Valores ultranacionalistas referem-se a ideologias que defendem a identidade cultural de um grupo étnico específico como essencial e superior, muitas vezes advogando pela exclusão ou restrição de direitos para aqueles vistos como “estrangeiros” ou “não-nativos”. Tais valores implicam na construção de uma sociedade etnicamente mais homogênea e favorecem práticas que reforçam a separação entre “nativos” e “imigrantes”. No caso do termo “remigração”, seu uso pelos grupos da extrema direita alemã se articula com essa visão, promovendo uma ideia de que a expulsão de migrantes e seus descendentes é uma medida necessária para “proteger” a cultura e a identidade nacionais em detrimento dos direitos civis e da diversidade. A alternativa correta é a letra B, pois o termo “remigração”, como destacado no texto, é usado pela extrema direita alemã para promover ideias de “hegemonia cultural e homogeneidade étnica”.
2 – C
As duas intervenções estatais mencionadas no texto — a Guerra de Canudos no final do século XIX e a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte no século XXI — compartilham elementos comuns e apresentam diferenças marcantes. O elemento comum é o uso do discurso modernizador como justificativa. A Guerra de Canudos (1896-1897), movimento liderado por Antônio Conselheiro em Canudos, Bahia, estabeleceu uma comunidade autossustentável que desafiava as estruturas políticas e sociais da recém-instaurada República Brasileira. O governo republicano, interpretando a comunidade como uma ameaça à ordem e ao progresso, utilizou um discurso modernizador para justificar a repressão militar, visando consolidar a autoridade republicana e eliminar o que considerava um foco de atraso e resistência ao novo regime. Usina Hidrelétrica de Belo Monte (iniciada em 2011): A construção da usina no rio Xingu, Pará, foi promovida pelo governo brasileiro como parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com o objetivo de ampliar a oferta de energia e impulsionar o desenvolvimento econômico do país. O discurso modernizador enfatizava a necessidade de infraestrutura energética para sustentar o crescimento econômico e atender à demanda nacional por eletricidade. A diferença sobre a questão ambiental. Guerra de Canudos: A intervenção estatal focou na eliminação de uma comunidade considerada subversiva, sem implicações ambientais significativas, uma vez que o conflito estava centrado em questões sociopolíticas e religiosas. Usina Hidrelétrica de Belo Monte: A construção da usina teve um impacto ambiental substancial, incluindo o alagamento de vastas áreas, deslocamento de comunidades ribeirinhas e indígenas, e alterações significativas nos ecossistemas locais. Essas questões ambientais geraram debates intensos e oposição de diversos setores da sociedade, preocupados com a preservação ambiental e os direitos das populações afetadas.
3 – C
O Estado Palestino possui a característica de descontinuidade territorial, uma vez que seu território é dividido em duas áreas principais: a Faixa de Gaza, localizada no sudoeste, ao longo da costa do Mar Mediterrâneo, e a Cisjordânia, ao leste. Entre essas duas regiões e em todo o entorno, está o Estado de Israel, o que torna o território palestino fragmentado e impede uma continuidade geográfica. Essa divisão territorial dificulta a mobilidade interna, a administração unificada e a formação de um Estado coeso, além de intensificar as tensões políticas e sociais entre os próprios palestinos, tendo em vista que cada uma das áreas é controlada por grupos diferentes (Hamas na Faixa de Gaza e Autoridade Palestina na Cisjordânia). Esta fragmentação ocorreu depois do Plano de Partilha da Palestina proposto pela ONU em 1947. A ideia central era criar dois Estados independentes. Enquanto a maior parte da região palestina era ocupada por árabes muçulmanos, a proposta da ONU limitava o espaço dos palestinos em detrimento da criação do Estado de Israel. É preciso lembrar que neste momento ainda não existia um Estado Palestino e nem um Estado Judeu. A região, neste momento, estava sob administração da ONU. Os países árabes do entorno não aceitaram a proposta e, com isso, teve início a primeira guerra entre árabes muçulmanos e judeus. Neste contexto, Egito, Síria, Jordânia e Líbano travaram uma guerra com os judeus, que venceram o conflito e se autoproclamaram um Estado Judeu indepedente em 1948/1949. A Guerra dos Seis Dias foi um conflito “preventivo” iniciado por Israel em 1967. De fato, a guerra teve menos de uma semana de duração e terminou com a expansão do Estado de Israel, que ocupou as Colinas do Golã (Síria), a Península do Sinai (Egito) e a Cisjordânia (Jordânia).
4 – C
A criação do Instituto Nacional de Estatística (INE) em 1936 por Getúlio Vargas está diretamente vinculada ao projeto de centralização e fortalecimento do Estado durante o período do Estado Novo (1937-1945). Um dos pilares fundamentais desse processo era o planejamento técnico e racional da administração pública. Para isso, era necessário o conhecimento detalhado da realidade nacional por meio da coleta e sistematização de dados estatísticos e geográficos. O INE, que mais tarde se transformaria no IBGE, visava justamente fornecer informações estratégicas sobre população, território, economia e infraestrutura, possibilitando o direcionamento de políticas públicas eficazes. O segundo excerto da questão trata da postergação do Censo 2020, que só foi concluído em 2023, destacando os entraves institucionais e políticos enfrentados pelo IBGE. O atraso na produção dos dados compromete a formulação de políticas públicas, pois decisões governamentais – como a alocação de verbas para saúde, educação, transporte e habitação – dependem de informações atualizadas e confiáveis sobre a população brasileira. Sem esses dados, a gestão pública opera “às cegas”, o que pode acentuar desigualdades regionais e sociais. A crítica do professor da USP à deslegitimação do IBGE por autoridades políticas evidencia o risco do chamado “negacionismo estatístico”, que mina a credibilidade das instituições e dificulta o debate público baseado em evidências.
5 – A
Racismo ambiental refere-se à distribuição desigual de riscos e impactos ambientais entre diferentes grupos sociais. Em suma, populações de baixa renda ou grupos marginalizados acabam sendo mais expostos a problemas ambientais de diversos tipos, incluindo deslizamentos, enchentes, poluição e escassez de saneamento básico. Essas condições adversas impactam diretamente a qualidade de vida, saúde e segurança desses grupos, reforçando ciclos de exclusão social e econômica. No caso de Vitória, o estudo aponta que as áreas mais suscetíveis aos deslizamentos de terra coincidem com as regiões de maior vulnerabilidade social, como o Maciço Central, manguezais e colinas costeiras, onde reside grande parte das populações de baixa renda. É importante deixar claro que a segregação socioespacial possui uma relação direta com o conceito de racismo ambiental. A prova da UERJ já cobrou esse conteúdo, mas chamou o processo de Preconceito Ambiental.
6 – D
A charge de Victor Gillam, publicada em 1899, está inserida em um contexto de expansão imperialista dos Estados Unidos no final do século XIX. A imagem representa a ideologia de que as grandes potências ocidentais, como os EUA e o Reino Unido, teriam uma missão “civilizatória” em relação aos povos de outras partes do mundo — uma narrativa baseada em preceitos racistas e etnocêntricos que legitimavam o colonialismo moderno. No caso dos Estados Unidos, essa visão se amparava na Doutrina do Destino Manifesto, uma crença de que a nação americana estava destinada por Deus a expandir seu território e seus valores pela América e, posteriormente, por outras regiões. Inicialmente usada para justificar a expansão continental (como a anexação de terras indígenas e territórios mexicanos), essa doutrina foi reinterpretada ao final do século XIX para sustentar a política externa imperialista dos EUA, marcada pela ocupação e controle de áreas no Caribe e no Pacífico. Um exemplo dessa consequência territorial foi a incorporação de territórios como Porto Rico, Guam e Filipinas após a vitória dos EUA na Guerra Hispano-Americana (1898). O Havaí também foi anexado em 1898, consolidando a presença norte-americana no Pacífico. Essas ações refletem a transição dos Estados Unidos de uma potência continental para uma potência imperialista com projeção global.
7 – B
Por décadas, o uso de expressões técnicas como “aglomerados subnormais” ou “aglomerados urbanos excepcionais” para designar favelas foi amplamente criticado por moradores e ativistas, que viam essas terminologias como uma forma de deslegitimar as vivências e as histórias das populações que habitam esses espaços. O termo “favela” possui, portanto, uma conotação identitária e representa a história de resistência e organização dessas comunidades, que muitas vezes enfrentam problemas de infraestrutura, segurança e inclusão. A demanda para que o termo “favela” seja reconhecido oficialmente é, portanto, uma reivindicação por respeito e legitimidade, uma forma de dizer que esses territórios não são apenas “aglomerados”, mas sim locais plenos de cultura, história e vida social. Identidade espacial refere-se justamente ao sentimento de pertencimento e à valorização das características culturais e sociais de um local. No âmbito da Geografia, essa demanda está fortemente atrelada ao conceito de Lugar.
8 – C
Durante a década de 1970, o regime militar brasileiro promoveu uma intensa política de interiorização do desenvolvimento, com destaque para a região amazônica. Essa estratégia fazia parte de um projeto geopolítico mais amplo que visava integrar áreas consideradas “vazios demográficos” ao restante do país e, assim, fortalecer a presença do Estado nacional em regiões de fronteira. Nesse contexto, a propaganda da SUDAM refletia os esforços do governo para explorar economicamente a Amazônia, promovendo a expansão da pecuária como forma de ocupação produtiva do território. A ideia era atrair investidores privados, especialmente do Sul e Sudeste, oferecendo vantagens como terras baratas e incentivos fiscais, para transformar a floresta em pasto. Essa conversão visava não apenas ganhos econômicos, mas também assegurar a soberania sobre uma região estratégica, diante de pressões internacionais que apontavam a Amazônia como patrimônio da humanidade, o que era interpretado pelo regime como uma ameaça à integridade territorial brasileira. O slogan “sua fazenda pode ter todo o pasto que os bois precisam” revela a visão do governo sobre a floresta: um espaço a ser “convertido” em função da lógica produtiva do agronegócio e do crescimento econômico. A ocupação por grandes propriedades e a queima da vegetação nativa para formação de pastagens tornaram-se práticas comuns nesse processo.
9 – A
O processo de desmetropolização ocorre quando as taxas de crescimento populacional das cidades pequenas e médias crescem em um ritmo superior à taxa de crescimento das metrópoles. Isso não significa que as metrópoles deixem de crescer, apesar de algumas cidades como Salvador e Rio de Janeiro terem perdido população de acordo com o censo de 2022. O que é levado em conta nesse processo são as taxas, ou seja, o percentual de crescimento. No Brasil de hoje, ocorre a desmetropolização na medida em que, como mostra o texto, as cidades médias (entre 100 e 500 mil habitantes) são as que mais apresentam crescimento. É sempre importante lembrar que o processo de desconcentração industrial tem um grande peso nesse processo.
10 – B
O texto de Lima Barreto é uma crítica contundente às transformações urbanas ocorridas na cidade do Rio de Janeiro durante o início do século XX, especialmente no período da gestão do prefeito Pereira Passos (1902–1906). Conhecido como o “bota-abaixo”, esse processo de modernização visava transformar a então capital federal nos moldes das metrópoles europeias, sobretudo Paris e Buenos Aires, como o próprio Lima ironiza. Ao comentar a demolição do Convento da Ajuda, o autor não apenas lamenta a perda de um edifício antigo, mas denuncia o apagamento sistemático da memória urbana — ou seja, a destruição de construções que remetiam ao passado colonial e imperial do Brasil. Essa atitude reflete um projeto republicano de afirmação de uma nova identidade nacional, que buscava romper com os símbolos do passado monárquico e escravista. Contudo, esse rompimento ocorreu por meio da eliminação física de edifícios históricos, tidos como “feios” ou “inadequados” à nova estética moderna e higienista da cidade. A fala de Lima Barreto revela a importância da preservação da memória urbana e denuncia o caráter elitista e superficial das reformas, que priorizavam a estética e o prestígio internacional em detrimento da história e da diversidade cultural da cidade. Ao chamar os conventos e igrejas de “anais de pedra”, o escritor reitera que a arquitetura antiga é parte da narrativa coletiva, e que sua destruição impede o pleno entendimento da identidade urbana.
11 – D
O Japão é o país mais idoso do mundo, com cerca de 30% da população sendo composta por idosos. A medida promovida pelo governo japonês, que envolve o pagamento de um incentivo financeiro para que famílias deixem a área metropolitana de Tóquio e se mudem para regiões menos populosas, visa responder ao problema crescente do envelhecimento populacional e da concentração urbana excessiva. Ao incentivar a migração de famílias para o interior, o governo espera revitalizar essas áreas, que enfrentam um grave despovoamento, aumentando a população economicamente ativa e promovendo uma estrutura etária mais equilibrada nessas regiões. Esse programa também busca estimular o desenvolvimento econômico e social fora dos grandes centros urbanos, onde a economia está fragilizada devido à escassez de mão de obra jovem. A longo prazo, a iniciativa pretende atrair famílias que possam se estabelecer, trabalhar localmente ou até abrir novos negócios, o que contribui para a sustentação das economias regionais e ajuda a enfrentar o desequilíbrio demográfico do país.
12 – D
O início da produção do Fusca nacional em 1959 pela Volkswagen, em São Bernardo do Campo (SP), insere-se diretamente na política econômica adotada pelo governo brasileiro durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956–1961), cuja principal diretriz era o modelo de substituição de importações. Essa política visava reduzir a dependência do Brasil em relação aos produtos industrializados estrangeiros, incentivando a produção nacional desses bens — especialmente bens de consumo duráveis, como os automóveis. A estratégia consistia em atrair investimentos estrangeiros, sobretudo de grandes multinacionais, por meio de incentivos fiscais, proteção tarifária e infraestrutura direcionada. O polo industrial do ABC paulista tornou-se o principal símbolo desse processo, concentrando montadoras como Volkswagen, Ford, General Motors e Mercedes-Benz. Ao contrário do que supõem outras alternativas, o capital investido não era exclusivamente nacional, e sim predominantemente estrangeiro, mas operava sob condições estabelecidas pelo Estado brasileiro para promover a industrialização. A produção do Fusca, portanto, foi um marco não apenas da modernização econômica e da ascensão do setor automobilístico no Brasil, mas também da consolidação de uma política que buscava nacionalizar o consumo e fortalecer a economia interna, reduzindo a saída de divisas e gerando empregos industriais. Esse processo esteve ligado à meta de “cinquenta anos em cinco” de JK, que pretendia acelerar o desenvolvimento do país por meio de grandes obras de infraestrutura, integração territorial e incentivo à indústria de base e de bens duráveis.
13 – B
A projeção de Peters é do tipo cilíndrica-equivalente, ou seja, busca preservar o tamanho dos países e continentes em detrimento das formas. Isso significa que, em comparação com projeções como a de Mercator, as áreas dos continentes e países aparecem em tamanho proporcional à sua superfície real. Por exemplo, países próximos ao Equador não parecem menores do que os próximos aos pólos, como acontece na projeção de Mercator. Desenvolvida por Arno Peters na década de 1970, essa projeção ganhou destaque pela sua mensagem política. Peters criticava a projeção de Mercator, alegando que ela exagerava o tamanho dos países do hemisfério norte em relação aos do hemisfério sul, além de possuir uma perspectiva eurocêntrica.
14 – C
O plano mencionado na questão é o Plano Marshall, oficialmente denominado Programa de Recuperação Europeia, lançado pelos Estados Unidos em 1948 com o objetivo de ajudar financeiramente os países europeus devastados pela Segunda Guerra Mundial. Além do propósito humanitário e de reconstrução, o plano tinha fortes motivações geopolíticas e econômicas, inseridas no contexto do início da Guerra Fria (1947–1991). Com a Europa em ruínas, havia o temor, por parte dos EUA, de que a miséria e a instabilidade social pudessem facilitar a expansão do comunismo, especialmente em países da Europa Ocidental, onde partidos comunistas estavam ganhando força política. O Plano Marshall foi, portanto, uma forma de conter a influência soviética por meio de apoio econômico — ou seja, uma estratégia de “soft power” para estreitar os laços com os países aliados e garantir sua permanência na esfera de influência ocidental. Mais do que uma simples ajuda econômica, o plano funcionou como um instrumento de alinhamento político-ideológico, fortalecendo democracias liberais e integrando essas nações ao modelo capitalista liderado pelos EUA. A iniciativa financiou a reconstrução de infraestruturas, reativou indústrias e fomentou o comércio entre os países europeus e os Estados Unidos, criando um bloco coeso contra a expansão da União Soviética.
15 – A
A grilagem remete ao processo de falsificação de documentos para a obtenção da posse de terras públicas ou privadas que foram invadidas de forma ilegal. No contexto da tríplice divisa entre Acre, Amazonas e Rondônia (conhecida como região AMACRO), essa prática é exacerbada pela alta valorização das terras devido à expansão do agronegócio e ao potencial de desenvolvimento agrícola na Amazônia. A região sofre com a apropriação indevida de terras, onde desmatadores ilegais e grileiros frequentemente destroem áreas florestais para posteriormente estabelecer pastagens, especulando sobre uma possível regularização fundiária que legalize as ocupações ilegais. Esse processo intensifica a devastação da floresta amazônica, à medida que grileiros invadem e desmatam essas terras, buscando a legalização futura de áreas desmatadas por meio de políticas de regularização fundiária. Além disso, o modelo de desenvolvimento agropecuário da AMACRO é comparado ao de MATOPIBA (abrangendo Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), uma região que viu aumento expressivo de desmatamento e concentração de terras em prol do agronegócio, replicando uma dinâmica de exploração insustentável que ameaça ecossistemas e comunidades tradicionais locais.
16 – A
O trecho apresentado define o ultranacionalismo como uma forma radical e excludente de nacionalismo, marcada pela intolerância ao “outro”, pelo culto à força, por um saudosismo autoritário e por uma postura avessa à cooperação internacional e ao conhecimento científico. Esse perfil se manifesta historicamente em regimes autoritários que buscavam a homogeneização cultural e o controle total do Estado sobre a sociedade. Nesse contexto, o salazarismo — regime político liderado por Antônio de Oliveira Salazar em Portugal, entre 1933 e 1974 — representa com clareza os traços do ultranacionalismo. A ideologia do Estado Novo português combinava autoritarismo, nacionalismo extremo, anticomunismo, censura, repressão política, tradicionalismo católico e um ideal de autossuficiência nacional. Salazar exaltava a ideia de uma nação portuguesa “una e indivisível”, combatia o pluralismo político e cultural, e sustentava uma imagem mítica do passado imperial lusitano, recusando mudanças sociais e políticas que ameaçassem sua concepção rígida de identidade nacional. Além disso, o regime salazarista resistiu a pressões internacionais por descolonização, mantendo guerras coloniais prolongadas na África durante as décadas de 1960 e 1970 — uma postura típica de ultranacionalismos que se recusam a aceitar a autodeterminação de outros povos. Havia também forte repressão ao pensamento crítico e científico, com controle ideológico sobre os meios de comunicação, a educação e a cultura.
17 – A
A descarbonização das cadeias produtivas envolve reduzir ou eliminar as emissões de carbono em cada etapa dos processos industriais e comerciais, desde a produção de matéria-prima até a distribuição dos produtos finais. Esse processo é essencial para atingir as metas climáticas globais, como as estabelecidas no Acordo de Paris e reforçadas na COP28. Empresas e governos buscam maneiras de diminuir as emissões nos chamados “Escopos 1, 2 e 3” das emissões de gases de efeito estufa (GEE). Esses escopos cobrem emissões diretas das atividades produtivas, emissões indiretas do consumo de energia elétrica e, principalmente, as emissões indiretas nas cadeias de fornecedores e consumidores A relação com a transição energética e o combate ao aquecimento global é direta: ao descarbonizar as cadeias produtivas, evita-se que o carbono seja emitido em todas as etapas de produção e consumo, alinhando o mercado com práticas mais sustentáveis e incentivando a inovação tecnológica. Isso inclui o uso de fontes de energia renovável, digitalização para otimização de processos e o desenvolvimento de produtos com baixo impacto ambiental. Assim, a descarbonização torna-se uma solução para mitigar os impactos climáticos enquanto permite o crescimento econômico responsável.
18 – C
Nas últimas duas décadas, a China consolidou-se como a principal parceira comercial de diversos países da América Latina, superando os Estados Unidos em volume de comércio com nações como Brasil, Chile, Peru e Argentina. Esse movimento marca uma inflexão significativa na geopolítica econômica do continente, que historicamente esteve inserido na esfera de influência norte-americana, especialmente após a Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, quando os laços comerciais, financeiros e militares com os EUA eram predominantes. O avanço chinês se deve a uma combinação de fatores, como o rápido crescimento econômico do país a partir da década de 2000, o aumento da demanda por commodities minerais e agrícolas (como soja, cobre, petróleo e minério de ferro), e o interesse em garantir rotas de fornecimento seguras para sua indústria. Além da América Latina, a China também intensificou sua presença econômica na África e na Ásia, investindo em infraestrutura, mineração, energia e tecnologias de comunicação. Esse processo tem sido interpretado por muitos analistas como um fortalecimento das relações comerciais entre países do Sul Global, conceito que designa nações em desenvolvimento que compartilham experiências históricas de colonização, dependência econômica e subordinação geopolítica. A intensificação dessas trocas econômicas — muitas vezes fora do eixo tradicional Estados Unidos–Europa Ocidental — indica uma mudança na ordem econômica global, onde o poder comercial está se tornando mais multipolar e onde países emergentes se tornam protagonistas de fluxos comerciais e investimentos. Além do impacto econômico, essa reconfiguração também traz implicações políticas e diplomáticas, como a criação de novas alianças multilaterais (ex: BRICS), a diversificação das fontes de financiamento (como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura) e uma maior autonomia em relação às instituições ocidentais tradicionais, como o FMI e o Banco Mundial.
19 – C
Para compreender esse gabarito, podemos utilizar o conceito de “ajuste espacial”, desenvolvido pelo geógrafo David Harvey, que explica as mudanças no modelo de produção global a partir da crise econômica dos anos 1970. Harvey argumenta que essa crise levou a uma transformação estrutural no capitalismo, onde o alto custo de produção nos países industrializados forçou empresas a buscarem vantagens locacionais em novos territórios. Essas vantagens incluem não apenas o custo mais baixo da mão de obra, mas também a ausência de sindicatos e leis trabalhistas, assim como a oferta de terrenos baratos, infraestrutura industrial e incentivos fiscais. Esse movimento é conhecido como desconcentração industrial ou reorganização produtiva pós-fordista. Embora a produção tenha se dispersado globalmente, os centros de comando e gestão permaneceram nas nações desenvolvidas. Isso ocorre porque esses países concentram infraestruturas financeiras avançadas, instituições de pesquisa, centros de inovação tecnológica e mão de obra altamente qualificada. Além disso, as sedes e matrizes dessas grandes corporações mantêm o controle das operações globais, garantindo o poder de decisão e a gestão centralizada dos lucros e investimentos. Essa divisão territorial reflete a hierarquia global do capital, onde a periferia fornece a mão de obra e os recursos, enquanto o núcleo controla as operações e acumula a maior parte dos lucros.
20 – C
A política de desregulamentação econômica anunciada pelo presidente Javier Milei na Argentina guarda semelhanças com modelos econômicos aplicados em países latino-americanos a partir da década de 1970, especialmente durante o avanço do neoliberalismo como resposta às crises do capitalismo industrial. Um marco importante para a ascensão dessas políticas foi a Crise do Petróleo de 1973, que gerou recessão, inflação e instabilidade econômica global, levando diversos países a repensarem a atuação do Estado na economia. Nesse contexto, o Chile tornou-se o primeiro laboratório de aplicação prática do neoliberalismo na América Latina, sob o regime ditatorial de Augusto Pinochet (1973–1990). Com apoio de economistas formados nos Estados Unidos — os chamados “Chicago Boys”, influenciados por Milton Friedman —, o governo chileno implementou uma ampla agenda de reformas que incluía privatizações, desregulamentação de mercados, abertura ao comércio internacional, flexibilização trabalhista e redução drástica da intervenção estatal. Essas medidas tinham como pressuposto a ideia de que o livre mercado seria o melhor mecanismo para alocar recursos e promover crescimento. Embora tenham provocado alguma estabilização macroeconômica, também geraram profundas desigualdades sociais, precarização do trabalho e enfraquecimento dos serviços públicos, consequências que ainda hoje são objeto de amplos debates na sociedade chilena. No caso argentino atual, a proposta de Milei segue essa mesma lógica de liberalismo radical, com a diferença de estar sendo implementada em um regime democrático e em meio a uma crise inflacionária persistente. O “megadecreto” que pretende revogar centenas de leis se alinha com a concepção de um Estado mínimo, que limita sua atuação à garantia de contratos e à proteção da propriedade privada, transferindo ao mercado a responsabilidade pelo funcionamento da economia.
21 – D
A latitude refere-se à distância de um ponto em relação à linha do Equador, medida em graus. Ela influencia diretamente a quantidade de radiação solar recebida ao longo do ano. Em regiões de alta latitude (próximas aos polos), a inclinação da Terra causa grandes variações na incidência solar entre o verão e o inverno, resultando em uma alta amplitude térmica anual. No Equador, a amplitude térmica é baixa, pois a radiação solar varia pouco ao longo do ano, mantendo temperaturas mais estáveis. No climograma, podemos perceber uma amplitude térmica anual que chega a aproximadamente 27 graus celsius. O único número no mapa com possibilidade de apresentar tamanha amplitude térmica é o 4. Além disso, percebemos que o número 4 está distante de grandes corpos hídricos, sofrendo com o efeito da continentalidade, outro fator climático que contribui para a variação climática apresentada no climograma. O número 1 está no Deserto do Saara e, portanto, não poderia apresentar os índices pluviométricos do climograma. O número 2 está em uma região equatorial, de baixíssima latitude e, desta forma, não poderia apresentar tamanha amplitude térmica. O número 3, na Austrália, está em uma faixa entre 20 e 30 graus de latitude e pelo mesmo motivo não poderia apresentar esta amplitude térmica.
22 – C
A análise do Fundo Monetário Internacional (FMI) evidencia que a inteligência artificial (IA) afetará de maneira desigual os empregos em diferentes regiões do mundo, com maior impacto sobre as economias avançadas, como Estados Unidos e Reino Unido, onde entre 60% e 70% dos empregos estão altamente expostos à tecnologia. Esse cenário, por um lado, pode levar a um aumento de produtividade para trabalhadores qualificados que souberem integrar a IA às suas funções; por outro lado, também representa uma ameaça concreta de substituição de postos de trabalho, especialmente em setores repetitivos e automatizáveis. Nos países em desenvolvimento, como Brasil (41%) e Índia (26%), o impacto da IA é relativamente menor, o que revela não uma vantagem, mas sim uma limitação estrutural: essas economias possuem uma maior parcela de empregos informais, de baixa qualificação e menos tecnologicamente integrados, o que as torna menos suscetíveis à substituição imediata por IA. Contudo, essa “baixa exposição” não implica imunidade, e sim vulnerabilidade à estagnação tecnológica, dificultando a modernização dos setores produtivos e a qualificação da mão de obra. Assim, a tendência é que a IA contribua para aprofundar as desigualdades globais, uma vez que os países com maior capacidade de investimento, infraestrutura e educação tecnológica poderão aproveitar melhor os ganhos de produtividade da IA, enquanto os países menos desenvolvidos ficarão à margem da revolução tecnológica, ampliando a disparidade socioeconômica entre o Norte e o Sul global.
23 – A
O movimento sionista, surgido no final do século XIX, está inserido em um contexto de expansão colonial europeia e de ideias de superioridade étnica. Essa ideologia se desenvolveu em uma época em que as potências européias buscavam justificar a dominação de outros povos e territórios, muitas vezes considerados “vazios” ou subjugados por populações “inferiores”. Esse pensamento baseava-se em uma visão etnocêntrica, enxergando a colonização como uma missão civilizadora. O sionismo, ao propor a criação de um lar nacional judeu na Palestina, foi influenciado por essas noções, as quais legitimavam a ocupação de terras e a subordinação de populações locais.
24 – A
O relato de Will-Ed Zungu revela, de forma sutil e crítica, as contradições vividas na África do Sul pós-Apartheid, especialmente no campo da educação e da identidade cultural. Embora o regime segregacionista oficial tenha sido encerrado com o fim do Apartheid em 1994, o texto expõe a permanência de estruturas simbólicas e institucionais que continuam a privilegiar padrões eurocêntricos, como o domínio da língua inglesa e o apagamento das línguas nativas africanas.Zungu menciona que, apesar de viver em um país que reconhece oficialmente 11 línguas, incluindo o isiZulu, sua língua materna, ele nunca teve acesso a ela na escola, sendo educado exclusivamente em inglês. Isso demonstra que a simples oficialização da diversidade linguística não é suficiente para garantir igualdade de acesso e representação nas instituições. A predominância do inglês e do africâner nas escolas anteriormente brancas indica uma continuidade da lógica excludente do Apartheid, agora sob formas mais sutis, mas ainda operantes. Além disso, os comentários elogiosos sobre o seu domínio do inglês, feitos por professores e pais brancos, revelam uma postura condescendente e racista, ainda que velada, que associa competência linguística a branquitude e subentende que um jovem negro não deveria “naturalmente” falar bem o inglês. Esse tipo de observação, muitas vezes vista como elogio, carrega uma carga de preconceito estrutural, reafirmando papéis sociais herdados do passado segregacionista.
25 – C
O conceito de refuncionalização pode ser aplicado quando uma forma se mantém (uma estrutura material como uma fábrica), mas sua função original é alterada. Neste caso, vemos que a forma (fábrica) se manteve inalterada e houve uma mudança de função, ou seja, uma refuncionalização. A função de uma fábrica está originalmente associada ao setor secundário (produção industrial), enquanto os shoppings centers possuem funções ligadas ao setor terciário (serviços). Esse processo é muito comum em diversas partes do mundo. No caso do Rio de Janeiro, temos o exemplo dos armazéns da região portuária. Se antes as formas tinham a função de armazenamento, hoje, com a revitalização da zona portuária, os armazéns funcionam como locais de eventos musicais, feiras, exposições etc.
26 – C
A canção Paciência, de Lenine e Dudu Falcão, traz uma reflexão profunda sobre o ritmo acelerado da vida contemporânea, expressando um desconforto do eu lírico diante de um tempo que exige pressa, produtividade e constante movimento. Esse sentimento está diretamente ligado à temporalidade das sociedades industriais, que desde o século XIX impuseram uma lógica de tempo marcada pela eficiência, racionalização e mecanização da vida cotidiana. Com o avanço da Revolução Industrial, o tempo deixou de ser regulado por ciclos naturais ou comunitários e passou a ser controlado pelo relógio, refletindo a lógica da produção em massa, das jornadas de trabalho cronometradas e da competitividade. Essa visão de tempo linear, contínuo e acelerado se intensificou ainda mais nas sociedades pós-industriais e globalizadas, em que a urgência do “tempo real” se tornou dominante nas comunicações, nas relações de trabalho e nas experiências pessoais.
A canção contrapõe essa aceleração ao desejo de calma, sensibilidade e interioridade — elementos que não encontram espaço nesse modelo temporal. Quando o eu lírico diz “eu me recuso, faço hora, vou na valsa”, ele propõe uma resistência simbólica à lógica industrial, buscando resgatar formas mais humanas e sensíveis de vivenciar o tempo, que valorizem o presente e as relações afetivas.
27 – D
A criação da Zona Franca de Manaus (ZFM) nos anos 1960 foi motivada pela necessidade de integração do território nacional e de estimular o desenvolvimento econômico da região Norte. Dentro do ponto de vista dos governos militares, era necessário “colonizar a Amazônia”, área vista como um vazio populacional. O governo brasileiro buscou, por meio de incentivos fiscais e estruturação de um polo industrial, atrair empresas e investimentos para essa área da Amazônia, oferecendo vantagens competitivas para o desenvolvimento local. Assim, a ZFM ajudaria a reduzir a concentração econômica em outras partes do país. Com a recente seca no Rio Negro, que reduziu drasticamente seu nível, a produção e a logística da ZFM foram impactadas. A seca levou algumas indústrias a adotar férias coletivas para milhares de trabalhadores e a repensar a distribuição de seus produtos. Este problema elevou os custos de transporte e afetou o preço dos bens de consumo produzidos na ZFM.
28 – C
O levantamento dos monumentos da cidade de São Paulo revela que a maioria homenageia figuras políticas tradicionais, militares e elites econômicas, deixando de lado as referências a povos indígenas, populações negras, trabalhadores e mulheres. Isso reflete uma memória pública excludente, que reproduz a narrativa histórica oficial e invisibiliza a diversidade social e cultural da cidade. A escolha dos homenageados molda a percepção histórica da população, mantendo estruturas simbólicas de exclusão e silenciamento de grupos historicamente marginalizados.
29 – B
Ao analisar a anamorfose, percebemos o destaque de países do Oriente Médio como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque e Kwait. Nas Américas, Estados Unidos, México, Venezuela e Brasil apresentam tamanhos bem representativos. Além disso, Rússia e China na Ásia e a Nigéria na África também têm destaque. O único fator (critério) que representa todos esses países ao mesmo tempo é a produção de petróleo.
30 – C
O governo do general Emílio Garrastazu Médici (1969–1974) foi o período mais repressivo e autoritário da ditadura militar brasileira, marcado por censura, perseguições políticas, tortura e desaparecimentos. Paradoxalmente, esse mesmo período também foi conhecido como o do chamado “Milagre Econômico”, quando o Brasil apresentou altas taxas de crescimento econômico, especialmente no setor industrial e nas grandes obras de infraestrutura. Esse crescimento, entretanto, não se refletiu em melhoras significativas nas condições de vida da maioria da população. Um dos pilares do modelo econômico da época era o arrocho salarial, ou seja, o controle dos salários para manter baixos os custos de produção e conter a inflação. Os salários cresciam abaixo da produtividade, o que gerava concentração de renda e aprofundava as desigualdades sociais. Ao mesmo tempo, o consumo interno era estimulado seletivamente — como na aquisição de bens duráveis, entre eles os automóveis — para consolidar o apoio das classes médias urbanas ao regime. Nesse cenário, a propaganda oficial teve papel central: o regime usou o discurso do progresso, das grandes obras e da modernização do país para criar uma imagem positiva da ditadura, ocultando a repressão política e os sacrifícios sociais impostos à população, como a perda de poder aquisitivo e a restrição de direitos trabalhistas. Slogans como “Brasil: ame-o ou deixe-o” e “Ninguém segura este país” refletiam esse esforço de legitimação do governo por meio da exaltação do crescimento.
31 – A
O conceito de cidades-esponja, desenvolvido pelo arquiteto chinês Kongjian Yu, propõe um novo modelo de planejamento urbano para lidar com os desafios das enchentes. Essa abordagem busca integrar elementos naturais ao ambiente urbano, permitindo que a água seja absorvida e armazenada em áreas estratégicas, reduzindo o impacto das chuvas intensas. Os sistemas represadores mencionados na alternativa referem-se a soluções como parques alagáveis, jardins de chuva, pavimentos permeáveis, bacias de retenção e telhados verdes, que ajudam a reter e infiltrar a água da chuva de maneira mais eficiente do que a drenagem tradicional baseada em canais e tubulações. Dessa forma, esses sistemas evitam que grandes volumes de água escoem rapidamente para os rios, reduzindo enchentes e alagamentos.
32 – B
A Lei de Terras de 1850 (Lei nº 601) foi um marco na história da propriedade agrária no Brasil, pois foi a primeira legislação a instituir a compra como única via legal de acesso à terra pública, encerrando a política de doações e sesmarias que vigorava desde o período colonial. Essa mudança ocorreu em um contexto de transição econômica e social: o país ainda era escravocrata, mas a proibição do tráfico negreiro (com a Lei Eusébio de Queirós, também de 1850) indicava que o sistema escravista caminhava para seu fim, criando a necessidade de uma nova base para o poder econômico rural. A partir da Lei de Terras, a terra passa a ser tratada formalmente como mercadoria, com necessidade de registro e titulação para comprovação da propriedade. Isso beneficiou sobretudo os grandes proprietários de terras, que já ocupavam amplos territórios de forma informal e puderam legalizar essas posses. Por outro lado, a exigência de compra impediu que ex-escravizados, imigrantes pobres e camponeses sem recursos tivessem acesso à terra, uma vez que não tinham capital para adquiri-la. Assim, ao invés de democratizar o acesso à terra, a legislação estreitou o mercado fundiário, fortalecendo a concentração fundiária e marginalizando as camadas mais vulneráveis da população.
33 – C
A distribuição dos data centers no mundo reflete o padrão da divisão internacional do trabalho, que organiza a produção global com base em especializações regionais. Países desenvolvidos tendem a produzir e exportar tecnologias, enquanto países em desenvolvimento se inserem na economia global através da exportação de bens primários ou bens industrializados de baixo valor agregado. No atual contexto da economia digital, os países desenvolvidos, como Estados Unidos, China e nações da Europa Ocidental, concentram a maior parte da infraestrutura tecnológica, incluindo data centers, por possuírem maior capital, infraestrutura energética e internet de alta velocidade. O Brasil e outros países emergentes, embora tenham data centers, possuem menor participação na estrutura global desses centros devido a fatores como custos elevados de energia, menores incentivos fiscais e infraestrutura menos avançada. Esse padrão reforça a assimetria na produção e armazenamento de dados, evidenciando a desigualdade na distribuição das tecnologias de ponta pelo mundo.
34 – C
O isolamento político de Julius Robert Oppenheimer nos anos 1950 deve ser compreendido no contexto da Guerra Fria, mais especificamente da Corrida Armamentista entre Estados Unidos e União Soviética. Após a Segunda Guerra Mundial, a tensão entre as duas superpotências intensificou-se, levando à corrida pelo domínio de tecnologias militares, especialmente armas nucleares. Oppenheimer, que foi figura central no Projeto Manhattan — responsável pela criação da primeira bomba atômica —, posteriormente passou a defender o controle internacional da energia nuclear e se opôs ao desenvolvimento da bomba de hidrogênio, postura que o colocou sob suspeita no clima político cada vez mais radicalizado da época. Esse ambiente de suspeita e perseguição ficou marcado pelo fenômeno conhecido como Macarthismo, liderado pelo senador Joseph McCarthy, que promoveu uma verdadeira caça às bruxas contra supostos comunistas infiltrados no governo, na academia, na imprensa e nas artes. A política de segurança nacional passou a incluir investigações e retaliações contra intelectuais, cientistas e artistas que fossem vistos como simpatizantes do comunismo ou críticos das ações do governo dos EUA. Oppenheimer foi alvo de inquéritos e teve sua autorização de segurança revogada, mesmo sendo um dos principais responsáveis pelo avanço científico militar dos Estados Unidos durante a guerra. Assim, o filme Oppenheimer (2023), ao explorar essa dimensão da vida do cientista, evidencia a ambivalência de seu legado: celebrado como o “pai da bomba atômica”, mas perseguido por seus ideais humanistas e pacifistas, num período em que o anticomunismo radical norte-americano não tolerava divergência ideológica.
35 – O gráfico apresenta a evolução do número de parlamentares europeus por ideologia nos últimos 30 anos. A análise dos dados permite identificar que os partidos de centro-esquerda, tradicionalmente ligados a políticas de bem-estar social, apresentaram declínio significativo, enquanto partidos de extrema-direita e conservadores registraram crescimento constante. Essa mudança reflete tendências observadas na política europeia, como a redução do apoio a políticas sociais e o crescimento de pautas nacionalistas e anti-imigração. A ascensão de partidos com discursos mais rígidos sobre imigração e economia demonstra a insatisfação de parcelas da população com medidas progressistas, favorecendo agendas protecionistas e de austeridade fiscal.
36 – B
O programa A Voz do Brasil nasceu em um contexto político específico: a ascensão de Getúlio Vargas ao poder e a construção de um Estado centralizado e autoritário, especialmente com o Estado Novo (1937–1945). A transformação do Programa Nacional em Hora do Brasil, com transmissão obrigatória em cadeia nacional a partir de 1938, foi uma estratégia clara de uso do rádio — o meio de comunicação de massa mais popular da época — para divulgar as ações do governo e fortalecer a imagem do Estado perante a população. A veiculação obrigatória e em horário fixo mostra seu caráter de instrumento de propaganda estatal, típico de regimes autoritários que buscam controlar a informação e monopolizar o discurso político. Já nas décadas finais do século XX, especialmente a partir da redemocratização e da Constituição de 1988, o programa passou por transformações significativas. Em 1998, por exemplo, foi incluída uma voz feminina na locução, marcando uma tentativa de tornar a comunicação institucional mais inclusiva e representativa da diversidade da sociedade brasileira. Essa mudança reflete valores democráticos mais recentes, como pluralidade, representatividade de gênero e linguagem acessível ao público. Ainda que a essência do programa permaneça ligada à divulgação dos atos dos Três Poderes, houve uma preocupação em atualizar sua forma e ampliar sua identificação com diferentes segmentos da população.
37 – B
A Reforma Pereira Passos (1902-1906) teve como objetivo modernizar o Rio de Janeiro, inspirando-se no urbanismo europeu, especialmente nas reformas de Haussmann em Paris. Entre as principais motivações econômicas para essa remodelação estava a atração de capitais internacionais, já que o governo republicano pretendia projetar a imagem de uma cidade moderna e higienizada, condizente com os ideais de progresso e desenvolvimento econômico. Essa estratégia estava alinhada com o desejo de estimular investimentos externos e consolidar o Rio de Janeiro como um centro financeiro e comercial no cenário global. No entanto, a reforma trouxe profundas consequências socioespaciais, sendo a demolição de habitações populares uma das mais significativas. Muitos cortiços, que abrigavam a população trabalhadora de baixa renda, foram destruídos para dar lugar a amplas avenidas e construções inspiradas no modelo europeu. Esse processo resultou na expulsão de milhares de moradores do centro da cidade, forçando-os a buscar alternativas habitacionais precárias, como as favelas em morros e regiões periféricas, fenômeno que marcou a urbanização do Rio de Janeiro.
38 – A
Segundo o historiador François Hartog, vivemos uma era de presentismo, em que o futuro é visto como ameaça e o presente se torna a principal preocupação. A obra “Últimas notícias: enchente no Louvre” dialoga diretamente com essa ideia ao retratar uma ameaça imediata ao patrimônio cultural, relacionada à crise climática. A simulação de uma enchente no museu mais famoso do mundo evoca o sentimento de ameaça iminente, característico da temporalidade atual, onde o futuro é percebido de maneira catastrófica.
39 – B
A transição demográfica refere-se à mudança no padrão de crescimento populacional, passando de altas taxas de natalidade e mortalidade para um cenário de baixos índices desses indicadores. O Brasil, como um todo, já avançou significativamente nesse processo, mas há diferenças regionais. A Região Norte encontra-se nos estágios iniciais da transição demográfica, pois ainda apresenta altas taxas de natalidade e fecundidade em comparação com outras regiões do país. Embora a mortalidade infantil tenha diminuído, o crescimento populacional ainda é mais expressivo devido ao número elevado de nascimentos. Esse padrão se assemelha às fases iniciais do modelo de transição demográfica. É possível observar esse padrão pela idade média da população. A região norte apresenta a população com idade mais jovem do país, o que indica uma relação com as primeiras etapas da transição demográfica. Regiões mais urbanizadas possuem maior expectativa de vida, como pode ser observado, por exemplo, nas regiões sul e sudeste.
40 – D
A transposição da narrativa de Coração das Trevas (1902), ambientada no colonialismo europeu na África do século XIX, para o contexto da Guerra do Vietnã nos anos 1970 em Apocalypse Now (1979), revela uma profunda continuidade histórica: a lógica do intervencionismo capitalista, que se manifesta por meio da exploração econômica, da imposição de valores ocidentais e da instrumentalização da violência sob o pretexto de “civilizar” ou “libertar” povos considerados inferiores ou ameaçadores. No romance original, Joseph Conrad critica os abusos cometidos no Congo Belga, um dos casos mais brutais do imperialismo europeu, onde o marfim – símbolo da riqueza colonial – é obtido à custa do sofrimento dos nativos africanos. A missão de Marlow, que navega pelo “coração das trevas” do continente, é também uma viagem ao colapso moral do homem branco em meio à selvageria que ele próprio criou. A “civilização” defendida pelos colonizadores se revela como uma fachada para a exploração brutal e irracional. Na adaptação cinematográfica, Coppola transpõe esse núcleo temático para a Guerra do Vietnã, conflito que simbolizou a tentativa dos Estados Unidos de conter o avanço do comunismo no Sudeste Asiático, dentro da lógica da Guerra Fria. Assim como no romance, a missão do protagonista é entrar em território estrangeiro dominado por um líder rebelde que rompeu com os valores ocidentais e criou seu próprio sistema. Durante essa jornada, evidencia-se o caos, a desumanização e a irracionalidade do imperialismo moderno, aqui travestido de guerra ideológica. Ambas as obras denunciam, ainda que com estéticas diferentes, a continuidade histórica de uma prática recorrente: nação poderosa invade, subjuga e destrói povos e territórios em nome de interesses econômicos e ideológicos, muitas vezes sob discursos de salvação ou progresso. Essa lógica intervencionista do capitalismo global é a ponte entre os dois contextos — o imperialismo europeu do século XIX e a geopolítica americana do século XX.
41 – C
A mudança de nome de um país ou território é um fenômeno político e simbólico que pode ter múltiplos objetivos. No caso das reportagens citadas, a substituição do nome Turkey por Türkiye e a possibilidade de mudança de Índia para Bharat estão inseridas em um contexto de promoção do nacionalismo, ou seja, o fortalecimento da identidade nacional e a afirmação de valores culturais específicos. No caso da Turquia, a mudança para Türkiye foi impulsionada pelo presidente Recep Tayyip Erdogan como parte de um movimento de rebranding nacional, buscando afastar associações negativas do nome Turkey (que também significa “peru” em inglês) e reafirmar a identidade do país de acordo com sua cultura e civilização. Já a possível renomeação da Índia para Bharat está ligada a um discurso nacionalista que busca reforçar elementos históricos e culturais anteriores ao colonialismo britânico. O nome Bharat tem raízes no sânscrito e na tradição hindu, sendo mencionado em textos antigos como o Mahabharata. Assim, sua adoção pode representar um esforço para destacar uma identidade nacional não associada ao período de dominação europeia.
42 – D
Ao analisar os dados globais sobre refugiados em 2023, observa-se que a maioria dessas populações não migra para países distantes ou altamente desenvolvidos, mas sim para nações vizinhas ou culturalmente próximas, frequentemente também localizadas no Sul Global. Isso se deve a uma série de fatores, entre eles: Proximidade geográfica, que torna a fuga mais viável, especialmente em situações de urgência como guerras, perseguições étnicas ou crises humanitárias; Laços culturais, linguísticos ou religiosos com os países de destino, que facilitam a integração inicial e o acolhimento comunitário; Recursos limitados para migração de longa distância, o que faz com que a maioria dos refugiados busque abrigo nos países mais acessíveis, e não necessariamente nos mais ricos.
43- C
A terceirização nos moldes da reforma trabalhista trouxe mudanças significativas para os trabalhadores, especialmente ao permitir a contratação de profissionais da atividade-fim por meio de empresas terceirizadas. Essa flexibilização tem implicações diretas na organização e na proteção dos trabalhadores, reduzindo sua capacidade de reivindicar melhores condições de trabalho. O principal impacto ocorre porque trabalhadores terceirizados não têm os mesmos direitos e proteções coletivas daqueles contratados diretamente pela empresa principal. Como os terceirizados pertencem a diferentes empresas, sua organização sindical se fragmenta, tornando mais difícil a mobilização para negociações salariais, benefícios e melhores condições laborais. Além disso, a rotatividade tende a ser maior entre terceirizados, enfraquecendo sua estabilidade e reduzindo sua capacidade de pressionar por melhores condições.
44 – C
O samba-enredo “Eu quero” (1986), composto logo após o fim do regime militar no Brasil (1964–1985), expressa os anseios populares por justiça social, liberdade, educação, saúde, moradia e dignidade — direitos historicamente negados durante a ditadura. A letra é marcada por um tom reivindicatório e esperançoso, mas também traz embutida uma crítica à herança deixada pelo regime militar, com a frase contundente: “Foram vinte anos que alguém comeu” — uma referência direta ao longo período autoritário em que a população foi privada de voz, direitos e acesso pleno à cidadania. Embora o refrão aponte para um novo tempo – “cessou a tempestade, é tempo de bonança / Dona Liberdade chegou junto com a esperança” –, ele é imediatamente precedido por um inventário de carências e frustrações sociais que a redemocratização ainda não havia resolvido. O “eu quero” repetido ao longo da letra é tanto um clamor por mudança quanto um alerta de que a democracia recém-instaurada precisava, de fato, entregar resultados concretos para o povo. Assim, o samba expressa uma combinação de esperança com crítica, revelando a desconfiança diante do futuro político do país após a ditadura. O fim do regime não trouxe automaticamente a reparação das injustiças, e a população seguia cobrando por igualdade, acesso a serviços públicos e respeito aos seus direitos.
45 – A
A possível aprovação da PEC que transfere a propriedade dos terrenos de marinha para Estados, municípios e particulares pode comprometer o acesso público às praias, que atualmente são bens da União e, portanto, logradouros públicos. No Brasil, as praias são consideradas bens de uso comum, garantindo que toda a população tenha direito à circulação e permanência nesses espaços. Com a privatização desses terrenos, há um risco crescente de restrição de acesso, especialmente com a expansão de empreendimentos imobiliários e turísticos de alto padrão. Em diversas partes do mundo e do Brasil, a privatização do litoral tem resultado na dificuldade de acesso às faixas de areia, seja por meio da limitação de passagens públicas ou pela imposição de barreiras indiretas, como taxas e normas restritivas. Esse fenômeno pode aprofundar a segregação socioespacial, favorecendo grupos com maior poder aquisitivo em detrimento do direito coletivo ao espaço litorâneo.
46 – C
Pelas definições do IPHAN e da Constituição de 1988, o patrimônio imaterial refere-se a práticas, expressões, saberes e celebrações que formam a identidade cultural dos grupos sociais. A imagem que representa essas práticas, como uma manifestação popular ou um ofício tradicional, exemplifica a transmissão intergeracional de cultura, em que o valor reside na prática viva e no conhecimento compartilhado, e não em um objeto material fixo.
47 – B
A mobilidade urbana sustentável deve garantir o deslocamento eficiente da população sem comprometer o meio ambiente e sem gerar exclusões sociais. Para isso, é fundamental que as políticas públicas priorizem a equidade no acesso à rede de transportes, ou seja, que todas as pessoas, independentemente de sua condição econômica ou localização na cidade, tenham acesso a opções de transporte seguras, acessíveis e eficazes. A equidade no transporte urbano envolve: a expansão e melhoria do transporte público, tornando-o acessível às populações de baixa renda e periféricas; a criação de infraestrutura para modais sustentáveis, como ciclovias e calçadas acessíveis; a redução da dependência do transporte individual motorizado, que gera congestionamentos e poluição.
48 – A
As reformas urbanas promovidas no início do século XX pelo então prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, inserem-se no contexto do projeto de modernização da capital federal, conhecido como o “Bota-Abaixo”. Inspirado nas reformas de Haussmann em Paris, esse projeto visava transformar o Rio de Janeiro em uma cidade “moderna” e “civilizada”, segundo os padrões eurocêntricos da época. Para isso, demoliu-se grande parte do tecido urbano colonial, expulsaram-se populações pobres das regiões centrais e substituíram-se locais historicamente marcados por experiências populares, negras e escravistas por paisagens artificiais, idealizadas e higienizadas. O Jardim Suspenso do Valongo, construído em 1906, é um exemplo emblemático dessa política. Foi erguido sobre uma área marcada pela dor, onde se localizava o Cais do Valongo, principal ponto de entrada de africanos escravizados no Brasil. Ao criar um jardim romântico destinado aos passeios da elite, as autoridades não apenas ignoraram o valor histórico daquele espaço, como conscientemente tentaram apagar os vestígios materiais e simbólicos da escravidão, promovendo uma paisagem que fosse condizente com a imagem de uma cidade moderna e progressista. Esse processo de apagamento da memória afro-brasileira é parte do que os historiadores chamam de “branqueamento simbólico do espaço urbano”, no qual a modernização se associa à negação do passado negro e escravocrata. A redescoberta arqueológica do Cais do Valongo e seu posterior reconhecimento pela UNESCO em 2017 como Patrimônio Mundial representaram um esforço recente de reconexão com essa memória, que por muito tempo foi soterrada tanto fisicamente quanto simbolicamente.
49 – A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de regular a inteligência artificial nas propagandas eleitorais tem como principal objetivo assegurar a integridade e transparência do processo eleitoral. A regulamentação busca evitar manipulações que possam induzir os eleitores ao erro, como a criação de deepfakes e a disseminação de informações falsas por meio de robôs e conteúdos automatizados. A lisura do processo eleitoral envolve garantir que os eleitores tenham acesso a informações confiáveis e não sejam influenciados por conteúdos falsificados ou manipulados. A proibição do uso de deepfakes e a obrigatoriedade de informar o uso de IA em propagandas eleitorais são medidas que visam impedir fraudes e preservar a democracia. Além disso, a responsabilização das big techs pelo não cumprimento dessas regras reforça a tentativa de manter um ambiente eleitoral justo e seguro.
50 – B
O Movimento Rastafári, surgido na década de 1930, representa uma expressão religiosa, política e cultural afrocentrada que emergiu inicialmente na Jamaica, mas cujas raízes ideológicas estão profundamente ligadas ao continente africano e à luta contra os efeitos do colonialismo e do racismo. Seu crescimento se deu em meio ao processo de descolonização africana e ao fortalecimento das lutas por identidade, autonomia e dignidade dos povos negros. Uma das principais características do movimento é o sincretismo religioso, pois o Rastafarianismo combina elementos do cristianismo (como a referência a Jah, derivada de Jeová, e à figura messiânica de Jesus), da tradição judaica (com a noção de que os negros seriam os verdadeiros filhos de Israel), e de tradições africanas. Essa mistura confere ao movimento uma cosmovisão única, que valoriza o retorno à espiritualidade africana e à reconexão com as raízes históricas do povo negro. Outra característica central é o panafricanismo, ou seja, a ideia de unidade e solidariedade entre os povos africanos e suas diásporas. Os rastas veem a África — especialmente a Etiópia, terra de Haile Selassie — como uma espécie de paraíso ancestral, chamado de Zion, ao qual devem retornar para romper com a opressão imposta pela “Babilônia”, nome dado à sociedade capitalista ocidental, vista como corrupta, racista e desumanizante.
51 – C
A Indústria 4.0 aplicada à agricultura, conhecida como Agricultura 4.0, consiste no uso de tecnologias avançadas para otimizar a produção agropecuária. O monitoramento por satélite, sensores e automação permite um uso mais eficiente dos recursos naturais, reduzindo desperdícios e minimizando impactos ambientais. Uma das principais consequências socioambientais dessas inovações é a redução do desmatamento em áreas agricultáveis, pois a modernização do setor agrícola possibilita um uso mais intensivo e produtivo das áreas já cultivadas, sem necessidade de expansão sobre novas áreas de vegetação nativa. A Agricultura 4.0 viabiliza técnicas como: a agricultura de precisão, que ajusta a aplicação de insumos à necessidade exata de cada local, evitando desperdícios; o sensoriamento remoto e drones, que monitoram a saúde do solo e das plantações, reduzindo impactos ambientais; a automação e inteligência artificial, que melhoram a gestão da produção sem aumentar a ocupação do solo.
52 – D
A criação da Central Elétrica de Furnas, em 1957, insere-se no contexto do nacional-desenvolvimentismo, política econômica adotada pelo governo de Juscelino Kubitschek (1956–1961), cujo lema era “cinquenta anos em cinco”. Essa estratégia visava acelerar o crescimento econômico por meio da industrialização, da modernização da infraestrutura e da integração territorial. Para isso, um dos pilares fundamentais era o investimento em energia elétrica, especialmente para abastecer o Sudeste brasileiro, região que concentrava a maior parte do parque industrial nacional em expansão. Ao garantir o fornecimento de energia elétrica em larga escala, Furnas viabilizou o funcionamento de grandes indústrias, principalmente em São Paulo e Minas Gerais, e reduziu a dependência externa por equipamentos e insumos industrializados, fortalecendo o processo de substituição de importações. Esse modelo buscava produzir no Brasil aquilo que antes era comprado do exterior, reduzindo o déficit na balança comercial e promovendo a autonomia econômica do país. Além disso, a expansão da infraestrutura energética, com a construção de usinas e linhas de transmissão, foi acompanhada por incentivos à instalação de multinacionais no setor automobilístico, de eletrodomésticos e de bens de consumo duráveis. A energia gerada por Furnas alimentou esse ciclo de crescimento industrial, ao mesmo tempo em que reforçou a presença do Estado como planejador e executor de grandes obras estruturantes.
53 – A
Na Geografia Humana, o conceito de lugar refere-se ao espaço vivido e carregado de significados individuais e coletivos, sendo construído a partir das experiências, relações afetivas e culturais das pessoas que ali vivem. Na canção de Nelson Cavaquinho, a Mangueira não é descrita apenas como um espaço físico, mas como um local repleto de emoções, histórias e identidade cultural. As referências à batucada, às noites estreladas, à cabrocha e aos barracos como “escolas de samba” revelam um vínculo afetivo e social com o lugar, reforçando a ideia de pertencimento e memória coletiva.
54 – A
O texto refere-se à organização federativa do Brasil, estabelecida pela Constituição de 1988, que reconhece a autonomia política, administrativa e tributária dos entes federativos — União, estados, Distrito Federal e municípios. Esse modelo é característico de um Estado federativo, em que o poder não está concentrado exclusivamente em um governo central, mas distribuído entre diferentes níveis de governo, cada um com competências específicas, inclusive no campo da arrecadação de tributos. Essa autonomia tributária visa garantir que os entes federativos possam financiar suas próprias políticas públicas, respeitando os princípios da descentralização e da responsabilidade fiscal. No entanto, na prática, essa descentralização tem gerado conflitos, especialmente entre os estados, naquilo que se convencionou chamar de “guerra fiscal” — um fenômeno em que unidades da federação concedem incentivos fiscais (como redução ou isenção de impostos) para atrair empresas e investimentos, muitas vezes de forma descoordenada e sem respaldo legal uniforme. A guerra fiscal pode causar desequilíbrios regionais, perda de arrecadação e disputas judiciais, pois compromete a competitividade entre os estados e pode prejudicar a prestação de serviços públicos em regiões que deixam de arrecadar adequadamente. Além disso, ela revela a fragilidade da cooperação federativa e a necessidade de reformas no pacto federativo e no sistema tributário nacional.
55 – B
O texto destaca que as remessas enviadas por migrantes africanos são mínimas, especialmente quando comparadas a fluxos financeiros observados em outras partes do mundo. Isso ocorre porque a migração na África é predominantemente intra-regional, ou seja, os deslocamentos acontecem dentro do próprio continente e, muitas vezes, estão relacionados a conflitos e mudanças ambientais, não a uma busca direta por melhores oportunidades econômicas no exterior. No cenário global, dois países altamente dependentes das remessas de seus emigrantes são o México e a Índia. Ambos possuem milhões de cidadãos vivendo no exterior, que enviam grandes quantias de dinheiro para suas famílias nos países de origem, contribuindo significativamente para suas economias. A índia é o maior receptor mundial de remessas, com bilhões de dólares enviados anualmente por trabalhadores indianos em países como Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido. Já o México recebe elevadas quantias de remessas, principalmente de migrantes que vivem nos Estados Unidos. As remessas representam uma importante fonte de renda para muitas famílias e para a economia do país.
56 – D
As manifestações de maio de 1968 na França — que começaram como protestos estudantis e rapidamente se expandiram para uma greve geral que paralisou o país — fazem parte de um movimento global de contestação aos valores tradicionais e às estruturas de poder estabelecidas, como o Estado, a família, a escola, a moral sexual e o sistema capitalista. Esse movimento se conectou a outras rebeliões ocorridas no mesmo ano em países como os Estados Unidos (movimentos pelos direitos civis e contra a Guerra do Vietnã), Brasil (resistência à ditadura militar), México (massacre de Tlatelolco) e Tchecoslováquia (Primavera de Praga). Apesar das diferenças políticas e locais, esses eventos compartilham uma forte dimensão contracultural, isto é, uma rejeição aos padrões culturais dominantes. Nos anos 1960, a juventude questionava a autoridade das instituições, os costumes conservadores e o conformismo das sociedades de consumo. Os protestos traziam pautas inovadoras, como a liberação sexual, a crítica ao autoritarismo, o antirracismo, a valorização das culturas alternativas (música, roupas, estilo de vida) e a recusa à alienação imposta pelas formas tradicionais de vida e trabalho. No caso francês, os cartazes dos estudantes de 1968 diziam frases como “Seja realista, exija o impossível” ou “Abaixo a sociedade do espetáculo”, evidenciando um projeto de transformação radical dos modos de viver, mais do que apenas de mudar partidos ou governos. A crítica se dirigia não apenas à política institucional, mas à cultura vigente como um todo — daí seu caráter contracultural.
57 – A
A decisão do IBGE de lançar um mapa-múndi com o Brasil no centro reflete uma escolha cartográfica que rompe com a tradicional perspectiva eurocêntrica, na qual a Europa ocupa a posição central nas representações do mundo. Essa mudança não altera as proporções geográficas reais dos continentes, mas simboliza uma tentativa de valorização da posição do Brasil e da América do Sul dentro da geopolítica global. Historicamente, os mapas foram elaborados com um viés europeu, destacando países do hemisfério Norte como referência central. Ao deslocar o Brasil para o centro da projeção, o novo mapa reafirma uma perspectiva menos eurocêntrica, promovendo uma visão mais alinhada à realidade geopolítica do Sul Global.
58 – A
O Decreto-Lei nº 869/1969, instituído durante o período mais repressivo da ditadura militar brasileira (1964–1985), estabelece a obrigatoriedade da disciplina Educação Moral e Cívica em todos os níveis de ensino. Essa medida integra um conjunto de ações do regime militar voltadas para o controle ideológico da população, especialmente da juventude, por meio do sistema educacional. Ao analisar os objetivos listados no decreto — como o “culto à pátria”, a exaltação dos “símbolos, tradições, instituições e grandes vultos da história nacional”, e a “preservação dos valores espirituais e éticos da nacionalidade” —, percebe-se que o foco está na formação de uma consciência nacional alinhada com os ideais do regime, marcada pela obediência, reverência à autoridade e negação do pensamento crítico. Esse tipo de formação é identificado como ufanismo compulsório, ou seja, um patriotismo exagerado e imposto, que transforma o amor à pátria em ferramenta de legitimação do poder político. Em vez de promover um debate plural sobre a sociedade brasileira, a disciplina reforçava a versão oficial da história, silenciando as vozes dissidentes e suprimindo a reflexão crítica sobre o Estado, os direitos civis e as liberdades democráticas. A implantação da Educação Moral e Cívica foi acompanhada de outras medidas semelhantes, como a obrigatoriedade da disciplina de Organização Social e Política Brasileira (OSPB), e fazia parte do esforço de moldar cidadãos dóceis, patrióticos e obedientes à ordem estabelecida, em consonância com os interesses do regime autoritário.
59 – B
Milton Santos, ao conceituar o meio técnico-científico-informacional, destaca a influência das novas tecnologias na reconfiguração do espaço geográfico e da economia global. A unicidade das técnicas, impulsionada pela difusão de infraestruturas modernas, pela conectividade e pela instantaneidade das informações, permite que o processo produtivo seja desvinculado de um único território específico. Esse fenômeno está diretamente relacionado à desterritorialização das atividades fabris, pois possibilita que diferentes etapas da produção sejam distribuídas globalmente, conforme interesses econômicos, logísticos e estratégicos das grandes corporações. A desterritorialização da produção ocorre porque as indústrias passaram a fragmentar suas cadeias produtivas, buscando vantagens comparativas em diferentes países. Isso pode ser observado em: deslocamento das fábricas para países com infraestruturas logísticas, com mão de obra mais barata e incentivos fiscais (como ocorre no Sudeste Asiático); terceirização e subcontratação de etapas do processo produtivo, permitindo a descentralização fabril; integração em cadeias globais de valor, nas quais diferentes países desempenham papéis específicos na produção de bens.
60 – A
A vitória de Jesse Owens nos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, foi um evento de profundo significado simbólico e político. Os Jogos ocorreram na Alemanha sob o comando do regime nazista de Adolf Hitler, que pretendia utilizá-los como uma vitrine para divulgar a suposta superioridade da “raça ariana” — ideia central da ideologia nazista, que sustentava a existência de uma hierarquia racial com os germânicos no topo e outros povos, especialmente judeus, negros, ciganos e eslavos, considerados inferiores. Nesse contexto, o desempenho extraordinário de Jesse Owens — um atleta negro americano que conquistou quatro medalhas de ouro em modalidades de destaque no atletismo — desafiou publicamente o discurso racista do regime. Diante dos olhos do mundo, um descendente de escravizados superou atletas arianos no centro da capital do Terceiro Reich, colocando em xeque a retórica nazista da supremacia racial. A presença e a vitória de Owens não apenas envergonharam Hitler e seus aliados, como também inspiraram movimentos antirracistas em diversos países. Além disso, o feito de Owens teve um impacto relevante na história do esporte e da luta por direitos civis nos Estados Unidos. Apesar de ser aclamado internacionalmente, ele voltou ao seu país ainda sujeito às leis de segregação racial e à marginalização social. Isso revela as contradições internas do discurso democrático americano em meio a um contexto de racismo estrutural.
61 – D
A decisão do governo português de encerrar o programa Golden Visa e restringir novos registros no Airbnb está diretamente relacionada ao aumento dos preços dos aluguéis em Portugal, especialmente nas grandes cidades como Lisboa e Porto. Essas políticas vinham favorecendo a especulação imobiliária, dificultando o acesso à moradia para a população local. O Golden Visa, ao permitir que estrangeiros adquirissem residência em Portugal por meio de investimentos, resultou na valorização excessiva dos imóveis, tornando-os inacessíveis para muitos portugueses. Da mesma forma, a expansão do Airbnb e outras plataformas de aluguel por temporada reduziu a oferta de moradias para residentes permanentes, já que muitos proprietários preferiram transformar seus imóveis em hospedagens temporárias mais lucrativas para turistas.
62 – D
A charge critica o fato de o governo militar usar a vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1970 como instrumento de propaganda nacionalista, tentando criar uma imagem de prosperidade e união. Ao mesmo tempo, a charge mostra que as condições socioeconômicas da população permaneciam precárias, com fome e pobreza generalizadas. Assim, Ziraldo ironiza a desconexão entre o espetáculo esportivo e a dura realidade social do país.
63 – A
A redução da semana de trabalho para quatro dias, sem corte salarial, é uma estratégia que vem sendo testada por diversas empresas ao redor do mundo. O objetivo é equilibrar a qualidade de vida dos trabalhadores com a manutenção ou até mesmo o aumento da produtividade. O modelo baseia-se na premissa de que jornadas mais curtas resultam em menos fadiga física e mental, tornando os funcionários mais engajados e eficientes durante o tempo em que estão no ambiente de trabalho. Estudos conduzidos em países como Reino Unido, Islândia e Japão demonstraram que a redução da jornada pode manter ou até aumentar a produtividade, pois os trabalhadores passam a gerenciar melhor seu tempo, reduzindo distrações e otimizando suas atividades. Além disso, a melhoria na saúde mental e física contribui para a redução do absenteísmo e do turnover (rotatividade de funcionários), beneficiando a empresa no longo prazo.
64 – B
O Programa Nacional do Álcool (Proálcool) foi lançado em 1975 pelo governo brasileiro como uma resposta estratégica à Crise do Petróleo de 1973, que provocou uma escalada nos preços internacionais do petróleo e expôs a vulnerabilidade dos países dependentes de importações de combustíveis fósseis — como era o caso do Brasil na época. Essa crise afetou profundamente a economia brasileira, já que a conta de importação de petróleo comprometeu as finanças nacionais e aumentou a inflação. Para enfrentar esse cenário, o regime militar decidiu incentivar a produção de um combustível alternativo e renovável: o etanol derivado da cana-de-açúcar, aproveitando a estrutura agrícola existente e a longa tradição do país no cultivo da cana. O Proálcool foi, portanto, uma medida de segurança energética, cujo objetivo era reduzir a dependência do petróleo importado, fomentar o setor sucroalcooleiro, gerar empregos no campo e garantir o abastecimento da frota nacional. O programa envolveu fortes incentivos estatais, como subsídios, crédito subsidiado, e a obrigatoriedade de mistura do álcool à gasolina — além da fabricação de veículos adaptados ao novo combustível.
65 – A
A cidade representada no climograma é Florianópolis (SC), localizada na Região Sul do Brasil, com latitude de aproximadamente 27° sul. A latitude é um dos fatores climáticos que mais influenciam a temperatura, pois determina a incidência de radiação solar ao longo do ano. Quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais distante do Equador, maior será a variação da incidência solar ao longo das estações do ano, resultando em uma maior amplitude térmica. Regiões próximas ao Equador recebem radiação solar mais constante ao longo do ano, apresentando pouca variação térmica, enquanto regiões mais afastadas sofrem maior influência das estações, com verões mais quentes e invernos mais frios. Embora Florianópolis não esteja em altas latitudes (como os polos), é uma das cidades com maior latitude no Brasil, já que o país está majoritariamente na zona tropical. Por estar na Região Sul, sua temperatura varia mais ao longo do ano do que nas cidades do Norte e Nordeste, resultando em uma amplitude térmica mais expressiva.
66 – D
O texto de Kim Scheppele descreve a transformação dos regimes autoritários contemporâneos, como os da Hungria e da Polônia, que diferem das ditaduras clássicas do século XX — como o nazismo de Hitler e o fascismo de Mussolini — por adotarem estratégias mais sutis e legalistas para concentrar poder, mantendo a aparência de sistemas democráticos. Uma semelhança importante entre esses contextos é o controle da imprensa, presente tanto nas ditaduras do século passado quanto nos autoritarismos contemporâneos. No século XX, esse controle era exercido de forma direta e brutal, com censura explícita, perseguição a jornalistas e uso massivo da propaganda estatal. Nos regimes atuais, embora a censura formal muitas vezes não exista, há pressão econômica sobre veículos independentes, manipulação de informações, criação de mídias estatais ou aliadas, e uso intensivo de desinformação nas redes sociais, o que fragiliza o debate público e compromete a pluralidade. Já a distinção fundamental está na forma de atuação política. As ditaduras da primeira metade do século XX rompiam com o modelo democrático abertamente, fechando parlamentos, abolindo eleições e impondo regimes totalitários por meio da força. Já os movimentos autoritários do século XXI agem por dentro das democracias, utilizando mecanismos legais para mudar constituições, enfraquecer o Judiciário e restringir o poder da oposição. Esse processo é conhecido como aparelhamento do Estado, em que instituições são progressivamente ocupadas por aliados políticos, comprometendo sua independência e neutralidade.
67 – C
O modelo produtivo descrito no texto faz referência à estratégia adotada por grandes corporações multinacionais, como a Apple, que transferem a produção de seus produtos para países onde a mão de obra é mais barata e menos regulamentada. Esse fenômeno está relacionado à realocação produtiva, na qual empresas deslocam suas fábricas para locais onde os custos são menores, e à terceirização, em que a produção não é feita diretamente pela empresa matriz, mas por fornecedores e subcontratadas, como a Foxconn no caso do iPhone. A terceirização é uma característica essencial do modelo pós-fordista de produção, no qual a rigidez das fábricas verticalizadas do fordismo foi substituída por cadeias produtivas globais fragmentadas, onde diferentes partes do processo produtivo ocorrem em locais distintos para reduzir custos e maximizar a eficiência. Essa descentralização produtiva levou ao aumento da exploração da mão de obra em países periféricos, onde as condições de trabalho são mais precárias, conforme descrito no texto.
68 – C
O rúgbi, originado no Reino Unido, se espalhou principalmente por meio do imperialismo britânico, sendo popularizado em antigas colônias como Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Fiji, que aparecem como destaques nos resultados olímpicos. A difusão do esporte evidencia o legado cultural do colonialismo britânico, mais do que um fenômeno recente de globalização ou investimento regional.
69 – C
O discurso do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán reflete uma ideologia nacionalista, marcada pela defesa da homogeneidade étnica e pela rejeição à imigração. O nacionalismo, em sua vertente mais radical, busca preservar características culturais e identitárias supostamente “originais” de um país, frequentemente excluindo grupos estrangeiros ou minoritários do convívio social. Além do nacionalismo, o posicionamento de Orbán apresenta traços supremacistas, pois a menção a “não querer se tornar povos de raça mista” sugere uma hierarquização entre diferentes grupos étnicos, um conceito historicamente associado a movimentos de extrema-direita e políticas discriminatórias. Essa retórica já foi adotada em diferentes momentos da história por regimes que promoveram a segregação racial e o fechamento de fronteiras a determinados grupos. A Hungria, sob a liderança de Orbán, tem seguido uma política rígida contra a imigração, especialmente em relação a refugiados do Oriente Médio e da África. Desde 2015, o governo húngaro tem reforçado barreiras físicas e legislativas contra imigrantes, desconsiderando políticas de acolhimento promovidas por outros países da União Europeia.
70 – B
No início do século XX, o Brasil foi profundamente influenciado pelas teorias raciais de origem europeia, entre elas a eugenia, que se baseava na crença de que era possível “melhorar” a qualidade biológica de uma população por meio da seleção e controle reprodutivo dos grupos humanos. Essas ideias tinham como pano de fundo o racismo científico e o Darwinismo social, e ganhavam força num momento em que o país buscava construir uma identidade nacional moderna e “civilizada”, segundo os parâmetros europeus. A eugenia no Brasil foi adotada por setores médicos, jurídicos e educacionais, e influenciou políticas públicas que buscavam “branquear” a população brasileira, considerada degenerada e miscigenada pelos padrões racistas da época. A principal estratégia associada a essa visão foi o estímulo à imigração europeia, especialmente de italianos, alemães e portugueses, com o objetivo de substituir a mão de obra anteriormente escravizada por trabalhadores tidos como racialmente superiores. Essa política migratória não visava apenas suprir as demandas econômicas do país após a abolição da escravidão (1888), mas também “aperfeiçoar” a composição racial da população, conforme os ideais eugênicos. O Estado brasileiro oferecia incentivos para atrair esses imigrantes e os destinava, sobretudo, ao trabalho agrícola e urbano, numa tentativa deliberada de transformar o perfil étnico do país.
71 – A
O conceito de refuncionalização urbana refere-se ao processo de transformação de espaços degradados ou subutilizados, dando-lhes novas funções e usos. O Projeto Porto Maravilha, iniciado em 2009 no Rio de Janeiro, é um exemplo clássico desse fenômeno. A iniciativa teve como objetivo revitalizar a zona portuária da cidade, que passou por um longo período de degradação após a crise dos sistemas cidade-porto no século XX. Dito de forma mais simples, o processo de refuncionaização ocorre quando as “formas urbanas” (a parte material da cidade) permanecem, mas com uma nova função. O maior exemplo são os armazéns portuários que, se antes cumpriam uma função de estocagem, hoje funcionam como casas de shows, espaço para feiras populares etc.
72 – A
O uso estratégico do rádio como meio de comunicação direta entre Getúlio Vargas e a população brasileira, especialmente durante o Estado Novo (1937–1945), é uma marca característica do populismo, modelo político que se consolidou em vários países latino-americanos no século XX. O populismo se define, entre outros aspectos, pela construção de uma relação direta e carismática entre o líder e as massas, muitas vezes mediada por canais de comunicação de grande alcance, como o rádio, e por discursos que apelam à identidade nacional, à unidade popular e à figura do chefe como o verdadeiro representante do “povo”. Esse contato buscava superar as intermediações partidárias ou institucionais tradicionais, favorecendo a imagem de um líder próximo, paternal e sensível às demandas populares. No caso brasileiro, Getúlio Vargas utilizou o rádio como ferramenta de propaganda política, sobretudo após a estatização da Rádio Nacional, em 1940. Em um país majoritariamente analfabeto e com grande parte da população excluída da esfera política formal, o rádio se tornou um instrumento poderoso para construir consensos, difundir valores do regime e consolidar a figura do presidente como defensor do povo. Programas como a Hora do Brasil e o Repórter Esso foram fundamentais para a disseminação da ideologia do Estado Novo e da imagem de Vargas como “Pai dos Pobres”.
73 – C
A tragédia ocorrida no litoral norte de São Paulo em 2023, classificada como um evento climático extremo, evidencia não apenas a força das mudanças climáticas, mas também as desigualdades estruturais que agravam os impactos de desastres ambientais. Como aponta a professora Norma Valencio, essas catástrofes estão profundamente ligadas a dinâmicas socioespaciais e estruturas institucionais que expõem determinados grupos sociais — geralmente os mais pobres e grupos étnicos marginalizados de um território — a riscos muito maiores, devido à precariedade das moradias, à localização em áreas de risco e à falta de políticas públicas eficazes de prevenção e mitigação. Esse cenário está diretamente relacionado ao conceito de racismo ambiental, que se refere à distribuição desigual dos riscos e impactos ambientais, geralmente recaindo sobre grupos racializados e socialmente marginalizados. O termo foi cunhado nos Estados Unidos nos anos 1980, mas aplica-se com força também à realidade brasileira, onde comunidades negras, indígenas e periféricas frequentemente vivem em regiões vulneráveis a enchentes, deslizamentos, poluição e ausência de infraestrutura. O racismo ambiental denuncia, portanto, que os efeitos dos desastres naturais não são neutros: eles refletem e aprofundam as desigualdades já existentes. No caso do litoral norte paulista, a ocupação de encostas, a falta de planejamento urbano e a omissão do poder público tornam essas populações especialmente suscetíveis aos impactos de eventos extremos, como chuvas torrenciais e deslizamentos de terra.
74 – A
O texto aborda um aspecto simbólico e funcional da experiência urbana em Brasília: os “caminhos improvisados” ou “linhas de desejo”, que surgem a partir das necessidades práticas dos pedestres e revelam as limitações do planejamento urbano modernista, centrado na circulação de automóveis e não na mobilidade humana cotidiana. Essas rotas informais evidenciam a inadequação dos espaços públicos ao uso popular, resultado de uma concepção de cidade que priorizava fluidez viária, monumentalidade e segmentação funcional dos espaços. Duas características históricas do período em que Brasília foi projetada, nos anos 1950 e 1960, contribuem para essa configuração urbana: atração de indústrias de bens de consumo duráveis, especialmente no setor automobilístico, que ganhou impulso com a instalação de montadoras estrangeiras e o estímulo à indústria nacional de veículos. Isso consolidou o modelo de mobilidade baseado no transporte individual motorizado, em detrimento de soluções voltadas à coletividade e à caminhabilidade urbana; o rodoviarismo como política de Estado, impulsionado pelo governo Juscelino Kubitschek, integrou a ideia de progresso à construção de rodovias e à expansão do transporte rodoviário, tanto para pessoas quanto para mercadorias. Brasília foi concebida como ícone desse projeto de modernização, com largas avenidas e extensos eixos viários, o que reforçou o distanciamento entre espaços urbanos e comprometeu a mobilidade a pé, especialmente fora das áreas monumentais.
75 – B
A projeção cartográfica de Mercator, criada no século XVI por Gerardus Mercator, é uma projeção cilíndrica conforme, ou seja, preserva as formas relativas dos continentes e países, mas deforma suas áreas, especialmente nas altas latitudes (próximas dos polos). Como essa projeção é construída a partir da projeção da superfície terrestre sobre um cilindro tangente ao Equador, as áreas próximas da linha equatorial mantêm proporções mais realistas. Porém, à medida que se afasta do Equador em direção aos polos, a escala é cada vez mais exagerada. Isso explica, por exemplo, por que a Groenlândia aparece quase do tamanho da África na projeção de Mercator, quando na realidade a África é cerca de 14 vezes maior.
76 – C
O texto descreve o papel crescente da China como potência diplomática e estratégica, especialmente no contexto de sua atuação frente à guerra na Ucrânia e à reconfiguração de alianças internacionais, como o acordo entre Irã e Arábia Saudita — rivais históricos no Oriente Médio. Essa atuação reforça a busca de Pequim por uma posição de protagonismo na ordem mundial, atraindo países do chamado “sul global” (nações em desenvolvimento da América Latina, África e Ásia) e propondo alternativas à liderança ocidental tradicional, historicamente dominada pelos Estados Unidos e seus aliados europeus. Esse movimento se insere em um cenário cada vez mais descrito por analistas como uma “Guerra Fria 2.0”, caracterizada por uma disputa entre blocos geopolíticos e econômicos: de um lado, o Ocidente liderado pelos EUA e pela OTAN; de outro, um eixo emergente com China e Rússia, que buscam questionar as instituições e normas internacionais dominadas pelos ocidentais desde o pós-Segunda Guerra Mundial. A guerra na Ucrânia e as tensões em torno de Taiwan, por exemplo, são manifestações diretas dessa nova configuração multipolar e tensionada.
77 – D
A concentração da maior parte dos refugiados em áreas de baixo desenvolvimento social se deve a fatores geográficos, econômicos e políticos. Quando uma população é forçada a deixar seu país por motivos como guerras, perseguições políticas, conflitos étnicos ou desastres ambientais, ela tende a buscar abrigo em regiões próximas, que geralmente compartilham fronteiras terrestres e vínculos culturais, linguísticos ou históricos. Como essas áreas são frequentemente países vizinhos, também em desenvolvimento ou com sérios desafios sociais, acabam absorvendo a maior parte desse contingente humano, mesmo sem infraestrutura adequada para acolhê-lo. Além disso, muitos refugiados não têm recursos econômicos nem meios logísticos para buscar asilo em países distantes ou desenvolvidos. Isso os obriga a permanecer em zonas de instabilidade ou em campos superlotados e mal equipados, agravando ainda mais a situação humanitária da região. Exemplos podem ser vistos nos movimentos: Sudão do Sul em direção a Uganda, Etiópia e Sudão: A guerra civil no Sudão do Sul, iniciada em 2013, gerou milhões de deslocados internos e refugiados. Países vizinhos como Uganda abrigam mais de 1 milhão de sul-sudaneses, mesmo enfrentando seus próprios problemas sociais. República Democrática do Congo (RDC) em direção a Ruanda e Uganda: Conflitos armados e violência de milícias na RDC geraram grandes fluxos de refugiados para Ruanda e Uganda, países que também lidam com desafios de pobreza e infraestrutura precária; Síria em direção à Turquia, Líbano e Jordânia: De 2011 a 2025, a guerra civil síria resultou em mais de 6 milhões de refugiados. A Turquia é o país que mais acolhe sírios (mais de 3 milhões), seguida por Líbano (que tem mais de 1 milhão, o equivalente a quase 20% de sua população total) e Jordânia. Esses países enfrentam limitações econômicas, pressões sobre serviços públicos e instabilidade política.
78 – B
A charge de Laerte critica a flexibilização da CLT, processo intensificado pela Reforma Trabalhista de 2017. A flexibilização enfraqueceu direitos historicamente conquistados, como garantias sobre jornada de trabalho, férias, e proteções sindicais, favorecendo formas mais precarizadas de emprego. A crítica mostra o impacto sobre os trabalhadores, que ficam mais vulneráveis e desprotegidos no mercado de trabalho.
79 – C
A fala do presidente francês Emmanuel Macron sobre a situação da Amazônia, classificada por ele como um “ecocídio”, está inserida em um contexto de preocupação internacional com o aumento do desmatamento e das queimadas na floresta, especialmente durante os primeiros anos do governo brasileiro iniciado em 2019. Nesse período, diversas medidas adotadas pelo governo federal enfraqueceram políticas de proteção ambiental e desvalorizaram órgãos públicos responsáveis pelo monitoramento, fiscalização e conservação da Amazônia, como o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). Entre essas ações, destacam-se: Corte de verbas e desmonte institucional desses órgãos; Redução das fiscalizações em campo, inclusive com constrangimentos públicos a agentes ambientais; Deslegitimação de dados científicos produzidos por instituições como o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais); Incentivos indiretos à expansão do garimpo e da grilagem em áreas protegidas e terras indígenas. Essas atitudes, combinadas com um discurso político que minimizava ou negava a gravidade do desmatamento, chamaram atenção da comunidade internacional e motivaram críticas de diversos chefes de Estado, como Macron. O apelo por uma “melhor governança” da Amazônia, com maior envolvimento de ONGs e populações tradicionais, é uma resposta à percepção de que o governo brasileiro da época não estava cumprindo adequadamente seu papel de preservação ambiental.
80 – C
A questão étnico-religiosa na Índia contemporânea está enraizada em processos históricos complexos, entre eles, as fronteiras traçadas durante e após o domínio colonial britânico, que não respeitaram as divisões culturais, linguísticas e religiosas locais. Ao final do domínio britânico em 1947, o subcontinente foi dividido entre Índia (de maioria hindu) e Paquistão (criado como um Estado de maioria muçulmana). Essa partilha provocou um dos maiores deslocamentos populacionais da história, com milhões de hindus migrando da região do Paquistão para a Índia e muçulmanos fazendo o caminho inverso, resultando em conflitos sangrentos e tensões duradouras. A Caxemira, foco do texto, tornou-se símbolo desse conflito histórico, sendo uma região de maioria muçulmana, mas que permaneceu sob administração indiana. Desde então, disputas territoriais entre Índia, Paquistão e até a China agravaram-se, e o território continua militarizado e politicamente instável. A revogação da autonomia da Caxemira pelo governo Modi em 2019 intensificou essas tensões, sendo interpretada como parte de um projeto de homogeneização étnico-religiosa, ligado a uma ideologia nacionalista hindu que contraria a pluralidade constitutiva do país.
81 – C
O pacto AUKUS, firmado entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália em 2021, é uma aliança estratégica e militar voltada para a região do Indo-Pacífico, área de crescente interesse geopolítico. Embora os líderes envolvidos declarem oficialmente que o acordo visa à promoção da segurança e da prosperidade regional, seu objetivo implícito — e amplamente reconhecido por analistas — é frear a crescente influência da China na região. A China vem reforçando sua presença militar e econômica no Mar do Sul da China, reivindicando territórios marítimos e ilhas disputadas, além de expandir seu poder naval. Essa expansão preocupa os países ocidentais, especialmente os Estados Unidos, que têm interesse em manter a liberdade de navegação, garantir rotas comerciais estratégicas e limitar a projeção de poder chinês sobre países vizinhos. O AUKUS inclui o compartilhamento de tecnologias militares avançadas, como submarinos de propulsão nuclear para a Austrália, além de cooperação em áreas como cibersegurança, inteligência artificial e vigilância marítima — componentes de uma estratégia de dissuasão militar frente ao avanço chinês.
82 – C
Durante o Estado Novo (1937-1945), o governo de Getúlio Vargas promoveu o uso da cultura popular para reforçar a disciplina social e a ordem. Compositores foram incentivados a criar sambas que transmitissem mensagens positivas, ordeiras e de valorização do trabalho, em vez de críticas sociais. Assim, a mudança nos sambas de Wilson Batista ilustra o esforço do regime de disciplinar e moldar o comportamento do operariado urbano, alinhando-o aos ideais nacionalistas e trabalhistas do governo.
83 – D
O avanço acelerado da inteligência artificial (IA) e sua crescente capacidade de simular o raciocínio humano em tarefas complexas — como escrever textos, resolver problemas matemáticos, produzir arte ou realizar diagnósticos técnicos — levanta preocupações significativas sobre os efeitos no mercado de trabalho. A automação de atividades que antes exigiam habilidades exclusivamente humanas representa um novo estágio da revolução tecnológica, que atinge não apenas funções operacionais, mas também setores especializados como educação, saúde, comunicação e tecnologia. Nesse contexto, um dos principais impactos negativos esperados é o desemprego estrutural em larga escala. Diferente do desemprego conjuntural, que decorre de crises econômicas passageiras, o desemprego estrutural está relacionado à substituição permanente da força de trabalho por novas tecnologias. À medida que as IAs passam a executar tarefas com mais eficiência e menor custo, muitos trabalhadores podem se tornar obsoletos, especialmente os que não têm acesso à requalificação profissional. Esse cenário demanda políticas públicas voltadas para educação tecnológica, formação continuada e proteção social, pois a transformação do mercado de trabalho não afeta apenas setores industriais, mas atinge também áreas intelectuais e criativas, como indica o próprio texto.
84 – B
O Brasil enfrentou crises hídricas severas nos anos de 2001, 2014 e 2021, em grande parte associadas ao fenômeno climático conhecido como La Niña, caracterizado pelo resfriamento anômalo das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Esse fenômeno altera o regime de chuvas em diversas regiões do planeta, incluindo a América do Sul. No caso brasileiro, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, a La Niña costuma provocar redução significativa das chuvas, comprometendo a disponibilidade hídrica. Em 2001, a crise hídrica levou ao racionamento de energia elétrica, com medidas emergenciais para reduzir o consumo. Em 2014, a estiagem foi considerada a mais intensa dos últimos 80 anos em algumas regiões, afetando drasticamente os reservatórios e elevando os custos da energia. Já em 2021, o país voltou a enfrentar a pior seca em quase um século, com baixos níveis de precipitação durante o período chuvoso, o que agravou ainda mais a crise energética. A matriz elétrica brasileira é predominantemente baseada em usinas hidrelétricas, que dependem de grandes volumes de água armazenada em reservatórios para gerar energia. Quando há baixa pluviosidade, os reservatórios não se recuperam adequadamente, comprometendo a capacidade de geração de energia e colocando o país em situação de risco de desabastecimento. Como resposta, o governo tem recorrido com frequência às usinas termelétricas, que utilizam combustíveis fósseis como gás natural, óleo diesel e carvão para gerar eletricidade. Embora sirvam como alternativa emergencial, essas usinas são mais caras (o que eleva a conta de luz para o consumidor) e mais poluentes, pois emitem grandes quantidades de gases de efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global e os desequilíbrios ambientais — ironicamente, intensificando os fenômenos extremos que causam as crises hídricas. Assim, a sequência de crises hídricas associadas ao La Niña e o modelo energético fortemente dependente de recursos hídricos evidenciam a vulnerabilidade do Brasil diante das mudanças climáticas e a necessidade de diversificar a matriz elétrica com fontes limpas e renováveis.
85 – C
A Terra Indígena Yanomami, localizada entre os estados de Roraima e Amazonas, está inserida em uma área geológica formada predominantemente por escudos cristalinos — estruturas antigas e estáveis da crosta terrestre compostas por rochas magmáticas e metamórficas. Essas formações geológicas são ricas em minerais metálicos, como ouro, cassiterita e coltan, o que atrai atividades de mineração, muitas vezes ilegais. Os garimpeiros ilegais se aproveitam dessa riqueza mineral para explorar economicamente o subsolo da região, frequentemente invadindo territórios protegidos, como terras indígenas, e promovendo graves impactos ambientais e sociais. Entre os efeitos mais recorrentes estão o desmatamento, a contaminação dos rios por mercúrio, e a disseminação de doenças, além de conflitos violentos com os povos originários.
86 – A
O corredor bioceânico é um projeto de integração física e logística que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico por meio de uma rota rodoviária que atravessa Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Ele tem como objetivo principal facilitar o escoamento de produtos agropecuários e industriais para os mercados globais, especialmente os do continente asiático, via portos do Pacífico. Para o Brasil, especialmente os estados da região Centro-Oeste, como Mato Grosso do Sul, o corredor representa uma importante vantagem econômica e logística: encurtar o caminho até os principais portos do Pacífico no Chile, reduzindo custos de transporte e tempo de exportação. Isso é particularmente estratégico para as commodities agrícolas brasileiras, como soja, milho e carne bovina, que são altamente demandadas por países asiáticos como China, Japão e Coreia do Sul. Além disso, a infraestrutura do corredor pode impulsionar o desenvolvimento regional, integrando áreas antes isoladas e ampliando a presença brasileira nos fluxos comerciais transpacíficos, hoje dominados por outras rotas.
87 – A
O debate sobre a regulação das redes sociais, intensificado a partir da década de 2010 e presente em diversos países, como no caso da União Europeia, tem como foco principal o enfrentamento de problemas graves associados ao uso indiscriminado e pouco supervisionado das plataformas digitais. Entre os principais riscos identificados por especialistas estão a manipulação de informações, a disseminação de discursos de ódio, o fortalecimento de bolhas ideológicas e a radicalização política. As gigantes digitais — como Google, Meta (Facebook, Instagram), Twitter (atual X), entre outras — passaram a exercer um papel central na mediação do debate público, muitas vezes sem qualquer responsabilidade sobre os conteúdos divulgados. Isso tem favorecido a circulação de fake news, interferência em processos eleitorais e a promoção de narrativas extremistas, com impactos diretos sobre a democracia, a coesão social e os direitos humanos. O projeto de regulação europeu visa impor regras mais rígidas às plataformas, exigindo maior transparência sobre os algoritmos, responsabilidade na moderação de conteúdos e combate ativo à desinformação e ao discurso de ódio. A ideia não é restringir a liberdade de expressão, mas criar limites éticos e legais para impedir abusos e proteger os usuários.
88 – C
A Doutrina Truman, formulada em 1947 durante o início da Guerra Fria, foi um dos pilares da política externa dos Estados Unidos no século XX. Ela se baseava na ideia de conter o avanço do comunismo em qualquer parte do mundo, por meio de apoio político, militar e econômico a países aliados ou em risco de cair sob influência soviética. No caso da Coreia do Sul, o apoio militar norte-americano — inclusive com a permanência de dezenas de milhares de soldados na península — é uma manifestação clara dessa lógica de contenção, típica da Doutrina Truman. O ultimato dado pelos EUA nos anos 1970, impedindo que Seul desenvolvesse seu próprio arsenal nuclear, reforça o controle estratégico dos EUA na região e sua disposição de proteger militarmente seus aliados, desde que esses se mantivessem dentro da esfera de influência ocidental. A Coreia do Sul, ao aceitar a proteção norte-americana, permaneceu integrada ao bloco capitalista, enquanto a Coreia do Norte se aproximou do modelo comunista — um típico cenário de divisão bipolar do mundo, característico da Guerra Fria. Ainda hoje, a presença militar dos EUA no território sul-coreano reflete essa lógica geopolítica.
89 – B
A Agricultura 4.0 representa uma nova etapa na modernização do setor agropecuário, marcada pela incorporação de tecnologias digitais de alta precisão. Entre os principais recursos utilizados estão sensores, drones, imagens de satélite, softwares de gestão, inteligência artificial e geoprocessamento. Essas tecnologias permitem o monitoramento em tempo real das lavouras, do clima, da umidade do solo e até da saúde das plantas. Uma das principais vantagens produtivas desse modelo é a otimização do uso de insumos agrícolas, como água, fertilizantes e defensivos, que passam a ser aplicados de forma mais precisa, localizada e eficiente. Isso resulta em menos desperdício, menor custo de produção, redução de impactos ambientais e aumento da produtividade.
90 – A
A tese do marco temporal defende que os povos indígenas só teriam direito à demarcação de terras que já estivessem sob sua posse em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Essa interpretação restringe os direitos territoriais dos povos indígenas, desconsiderando processos históricos de expulsão, violência, grilagem e ocupação ilegal que marcaram suas trajetórias. No caso citado no texto, a Terra Indígena Marãiwatsédé, do povo Xavante, foi invadida e explorada por latifundiários por mais de 30 anos, sendo retomada pela comunidade apenas em 2013. Isso significa que, sob a lógica do marco temporal, essa terra não estaria assegurada aos Xavante, já que eles não a ocupavam formalmente em 1988 — ainda que essa ausência tenha sido provocada por processos de expulsão e usurpação de suas terras. Portanto, a manutenção da atividade de coleta de sementes e de reflorestamento, descrita no texto como prática ambientalmente sustentável e socialmente importante, fica ameaçada pela possível invalidação jurídica da posse indígena sobre o território. Caso o marco temporal seja validado, há o risco de desconstituição de demarcações já feitas, colocando em perigo tanto a preservação ambiental quanto a autonomia cultural e econômica dos povos indígenas.
91 – B
A proposta de criação de uma moeda única para facilitar o comércio entre os países membros dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) expressa uma tendência de aprofundamento das relações econômicas e financeiras entre países do sul global — expressão usada para se referir às nações em desenvolvimento localizadas principalmente na América Latina, África e Ásia. Essa iniciativa está inserida em um movimento mais amplo de busca por autonomia frente aos centros tradicionais do poder econômico, como os Estados Unidos e a União Europeia. A ideia de uma moeda comum visa reduzir a dependência do dólar americano, que ainda domina grande parte das transações comerciais e financeiras globais. Além disso, a proposta fortalece o papel do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o chamado “banco dos BRICS”, como alternativa às instituições financeiras dominadas pelo Ocidente, como o FMI e o Banco Mundial.
92 – B
Nas duas últimas décadas do século XX, especialmente entre os anos 1980 e 1990, a América Latina passou por profundas transformações políticas e econômicas, que marcaram uma ruptura com o modelo nacional-desenvolvimentista baseado na intervenção do Estado na economia, na industrialização por substituição de importações (ISI) e na proteção de mercados internos. Com o avanço da globalização econômica e das orientações neoliberais difundidas por organismos como o FMI e o Banco Mundial, os países latino-americanos adotaram um conjunto de medidas conhecidas como ajustes estruturais ou reformas de mercado. Essas medidas visavam enxugar o papel do Estado, liberalizar as economias e atrair investimentos externos. Entre as ações mais significativas desse período, destacam-se: privatizações de empresas estatais, isto é, houve a venda em massa de empresas públicas nos setores de energia, telecomunicações, mineração, transportes e bancos. O objetivo era reduzir o déficit público, aumentar a eficiência e alinhar-se aos preceitos do livre mercado; austeridade fiscal, ou seja, os governos adotaram políticas de contenção de gastos públicos, cortes em programas sociais e reformas que priorizavam o equilíbrio orçamentário, muitas vezes em detrimento de políticas redistributivas ou de desenvolvimento interno.
93 – D
O texto aborda uma contradição na representação política da Câmara dos Deputados no Brasil: embora o artigo 45 da Constituição determine que a representação deve ser proporcional à população dos estados, há um piso mínimo (8 deputados) e um teto máximo (70 deputados) para cada unidade federativa. Essa limitação distorce a proporcionalidade do voto, fazendo com que estados menos populosos tenham representação inflada (sobrerrepresentação), enquanto estados muito populosos tenham sua força política relativa diminuída (subrepresentação). É o caso, por exemplo, de São Paulo, o estado mais populoso do Brasil, com mais de 44 milhões de habitantes, que tem 70 deputados federais — o teto máximo. Se a proporcionalidade fosse respeitada estritamente, teria mais representantes. Logo, São Paulo é subrepresentado. Já o Acre, um dos estados menos populosos, com cerca de 800 mil habitantes, tem 8 deputados federais — o piso mínimo. Pela regra proporcional, teria menos representantes. Assim, o Acre é sobrerepresentado. Essa distorção viola o princípio de isonomia do voto, pois o voto de um eleitor no Acre tem peso muito maior, em termos de representação parlamentar, do que o voto de um eleitor em São Paulo. Esse descompasso compromete o ideal democrático de que todos os votos devem ter igual valor na escolha de representantes.
94 – B
A Revolta de Stonewall, ocorrida em junho de 1969, é considerada o marco inicial do movimento LGBTQIA+ contemporâneo. Ela aconteceu em um período de intensas transformações sociais nos Estados Unidos, marcado por contestação à ordem estabelecida e pela emergência de diversos movimentos sociais — entre eles, os que reivindicavam direitos civis, liberdade sexual, igualdade racial, oposição à guerra do Vietnã e crítica aos valores conservadores tradicionais. Essas manifestações formavam o que se convencionou chamar de movimento contracultural — um amplo conjunto de ações, ideias e práticas que questionavam os padrões normativos da sociedade americana da época. A reação à violência policial no bar Stonewall Inn foi expressão direta dessa contracultura, ao desafiar o status quo e reivindicar direito à existência e à dignidade para pessoas LGBTQIA+. Décadas depois, em 2016, o governo dos Estados Unidos reconheceu o significado histórico da revolta, ao declarar o Stonewall Inn como monumento nacional. Esse reconhecimento faz parte de um esforço recente de diversificação dos espaços de memória, ampliando a noção de patrimônio histórico para incluir locais de luta e resistência de grupos marginalizados, que historicamente foram apagados da narrativa oficial.
95 – A
A cidade do Rio de Janeiro possui um sítio urbano bastante peculiar, caracterizado por um relevo acidentado, composto por morros, maciços e florestas, intercalados por áreas planas e faixas costeiras. Essa configuração geográfica dificultava a integração entre diferentes zonas da cidade, como a Zona Sul e a Zona Norte, separadas por cadeias montanhosas — em especial pelo Maciço da Tijuca. A construção de túneis como o Rio Comprido-Laranjeiras (no século XIX), o Túnel Santa Bárbara (1965) e, posteriormente, o Túnel Rebouças (1971) foi uma resposta à necessidade de melhorar a mobilidade urbana e conectar as diferentes áreas da cidade, que já apresentava grande movimento populacional e econômico. Esses túneis reduziram o tempo de deslocamento e facilitaram o fluxo de pessoas, mercadorias e serviços em um território geograficamente fragmentado.
96 – D
O texto destaca que a África do Sul, mesmo antes do apartheid formalizado em 1948, já apresentava uma estrutura de segregação racial, produto de uma longa história de dominação colonial e imposição de estruturas sociais baseadas na raça. Esse processo é diretamente relacionado à colonização europeia, que definiu as fronteiras nacionais sem levar em consideração as divisões étnicas e culturais das populações africanas originárias. Durante o processo de expansão colonial no século XIX, principalmente por holandeses (bôeres) e britânicos, foram criadas fronteiras políticas artificiais na África, conforme os interesses econômicos e estratégicos das potências europeias, ignorando a organização social, cultural e territorial dos povos indígenas. Esse padrão foi generalizado no continente africano, e a África do Sul não foi exceção: a presença simultânea de brancos, negros africanos de diferentes grupos étnicos, asiáticos e mestiços em um único Estado resultou em tensões que se aprofundaram com o tempo. O regime do apartheid procurou administrar essa diversidade racial pela supremacia branca, criando políticas de desenvolvimento separado e tentando, sem sucesso, desnacionalizar a maioria negra. Assim, a permanência de múltiplos grupos raciais em um único Estado sul-africano é, em última análise, consequência da partilha colonial do território africano, feita sem respeito às realidades locais.
97 – C
Os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 tratam da função social da propriedade urbana, princípio fundamental do ordenamento jurídico brasileiro. Esses dispositivos buscam assegurar que o uso da terra nas cidades atenda ao interesse coletivo, promovendo direito à moradia, acesso à cidade e desenvolvimento urbano equilibrado. O artigo 182 estabelece que a política de desenvolvimento urbano deve ser orientada para garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade — ou seja, a cidade deve oferecer condições adequadas de vida para todos os seus habitantes, e o espaço urbano não pode ser utilizado exclusivamente em benefício de interesses privados. O artigo 183, por sua vez, regulamenta o usucapião urbano: permite que uma pessoa que ocupe uma pequena área urbana de maneira contínua, pacífica e sem oposição por cinco anos, utilizando-a como moradia, tenha direito à propriedade, mesmo sem título formal. Essa norma é uma forma de reconhecimento jurídico da posse como meio legítimo de acesso à moradia, especialmente para populações de baixa renda. Essas medidas visam combater a especulação imobiliária, prática em que proprietários mantêm imóveis vazios ou subutilizados com a intenção de obter ganhos financeiros futuros, em detrimento da função social da propriedade e do direito à cidade. Ao possibilitar a perda da propriedade para fins de moradia efetiva, a Constituição desincentiva a retenção de imóveis apenas para valorização futura, pressionando para que os bens urbanos cumpram uma função coletiva.
98 – D
As reformas urbanas no Rio de Janeiro no início do século XX, especialmente durante o governo do prefeito Pereira Passos (1902-1906), tinham o objetivo de modernizar a capital federal e alinhá-la esteticamente aos modelos europeus de urbanismo, como o de Paris. A ideia era transformar o Rio de Janeiro em uma vitrine do progresso da recém-instaurada República Brasileira, promovendo uma imagem de civilização, modernidade e ordem. A produção de fotografias e cartões postais, conforme o texto destaca, serviu como ferramenta de propaganda internacional, reforçando a percepção de que o Brasil estava se afastando de seu passado colonial e imperial e caminhando para ser uma nação moderna, progressista e aberta a novas relações com o mundo. Um dos objetivos centrais dessa promoção era atrair imigrantes europeus, principalmente trabalhadores qualificados, para substituir a mão de obra escravizada recém-liberta e impulsionar a economia urbana e industrial. Além disso, buscava-se distanciar simbolicamente o novo regime republicano da imagem associada ao Império do Brasil, que muitos viam como atrasado e arcaico.
99 – D
Os movimentos populistas de extrema-direita na Europa compartilham características como ultranacionalismo, antiglobalismo, xenofobia e euroceticismo. O ultranacionalismo, em particular, é central nesses discursos: trata-se da ênfase exacerbada na soberania nacional, na identidade cultural e na priorização dos interesses do próprio país em detrimento de projetos multilaterais ou integrações supranacionais. A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e seu partido Fratelli d’Italia (Irmãos da Itália) defendem pautas que refletem esse ultranacionalismo, como o fechamento de fronteiras à imigração, a defesa da família tradicional, a redução de impostos e o afastamento de regulações supranacionais, principalmente as vindas da União Europeia. A União Europeia é o principal organismo internacional criticado por esses movimentos, acusada de retirar a autonomia dos Estados nacionais e impor normas econômicas, políticas e sociais que seriam incompatíveis com as tradições e interesses locais. Por isso, partidos como o Fratelli d’Italia, o Vox na Espanha e o Lei e Justiça na Polônia são eurocéticos e muitas vezes promovem campanhas contra as diretrizes de Bruxelas.
100 – A
O texto descreve um processo no qual moradores antigos de um bairro, no caso Crown Heights, no Brooklyn (Nova York), estão sendo expulsos por conta do aumento dos aluguéis e da chegada de novos residentes de maior poder aquisitivo. Esse processo é típico do fenômeno conhecido como gentrificação. A gentrificação ocorre quando áreas urbanas tradicionalmente ocupadas por populações de baixa renda, muitas vezes associadas a grupos étnico-raciais minoritários, passam a ser valorizadas economicamente com a chegada de investimentos, serviços e novos moradores mais ricos. Como consequência, ocorre o encarecimento dos custos de moradia, o que expulsa os residentes originais, que não conseguem mais arcar com os novos padrões econômicos impostos no bairro. Esse processo gera transformações urbanas e sociais profundas, alterando a composição demográfica, cultural e econômica dos bairros. Além disso, provoca tensões sociais, perda de laços comunitários e exclusão espacial de populações historicamente estabelecidas nessas áreas.